Política Externa Brasileira nos Anos de Chumbo.
Fragmento da Tese de Doutoramento de Samuel de Jesus: "Gigante Pela Própria Natureza": as raízes da projeção continental brasileira e seus paradoxos. (22.06.2012)
Cavagnari (2000) afirma que a estratégia brasileira
(a partir dos anos quarenta, cinqüenta, sessenta e setenta) passou a ter como
referência o conflito leste-oeste; assim a defesa foi articulada no âmbito
interno para que fosse garantido o “status-quo”
político ideológico frente a uma eventual “ameaça comunista.” Nesse período
eram dois os cenários estratégicos: a guerra interna, baseada no princípio de
aniquilamento do inimigo (interno) e o da guerra contra a Argentina (externo).
A
partir do momento em que a construção da grande potência passou a ser a
intenção principal dos militares, a variável científico-tecnológica tornou-se
decisiva para a modernização da força militar. Alcançar o domínio de
tecnologias sensíveis tornou-se uma necessidade para essa modernização, já que
a grande potência deveria ter também percebida na sua dimensão militar. Aliás a
nuclearização dessa força chegou a ser vontade militar, mas não decisão
política. (CAVAGNARI FILHO, 2000, pp.120).
O já mencionado estrategista civil
Héctor Saint Pierre (1993) salienta que o conceito de hegemonia permeia a
Concepção Estratégica Oficial - (CEO). O crescimento do país (nacional) só é
possível através da garantia, para o Brasil, da hegemonia regional. Segundo
essa estratégia a projeção hegemônica é determinada hierarquicamente na relação
entre os países. A questão se resume na determinação de que país irá ter a maior
influencia econômica, cultural, política e militar ao ponto de impor e garantir
essa presença regional. Dessa maneira os países vizinhos são considerados
“inimigos potenciais” competidores ou adversários da “vontade nacional”.
A CEO consideram possível
uma sub-hegemonia regional exercida pelo Brasil. A partir dessa consideração,
existem duas possibilidades para exercer esse papel. Primeiro, a via do
consentimento dos EUA (superpotência); assim os militares brasileiros estariam
inseridos no dispositivo estratégico estadunidense. Segundo, pela via do
confronto que não era considerado pelos adeptos da CEO até o final da Guerra
Fria (1989). Para a CEO a estratégia torna-se impossível sem a presença de um
inimigo, interno ou externo, atuante ou potencial que é resolvido através da
Doutrina de Segurança Nacional. (SAINT PIERRE, 1993, pp. 36 e 38.).
Durante
o Governo Médici (1969-1974), a orientação da política externa brasileira foi a
de projeção política sobre a América Latina por meio da “diplomacia da prosperidade”;
assim esse governo colaborou com os golpes da Bolívia (1971), Uruguai (1973) e
Chile (1973), O Plano de Desenvolvimento do Governo Médici pretendia, sobretudo
assegurar ao Brasil a viabilidade política, econômica e social, ou seja o papel
de “Grande Potência”. (CAPELATO, 2000, pp.310)
O
sucesso econômico do Brasil sob o governo Médici provocou a exacerbação de um
nacionalismo agressivo, imperialista que buscava status de potência hegemônica
na América do Sul. (CAPELATO, 2000, pp. 310).
Destacamos
também a Operação Trinta Horas que ocorreria em 1971. Uma clara intervenção do
Brasil na política uruguaia. Essa operação consistia na intervenção militar
brasileira caso o candidato à presidência Liber Serigni fosse vitorioso no
pleito nacional daquele ano. (GRAEL, 1980.) Outra intervenção brasileira
na América do Sul nos Anos de Chumbo (1969-1974) foi a interferência brasileira
em assuntos bolivianos. O Brasil colaborou com o golpe dado no governo do
presidente Juan Carlo Torres. Golpe que colocou Hugo Banzer no poder.
(NEEDLEMAN, 1974).
3.2.6 Brasil e Argentina no contexto do Tratado de
Cooperação Amazônica (1977-1978)
Sobretudo, a
construção da usina hidrelétrica de Itaipú teve implicações geopolíticas. Os
argentinos temiam que além de seu potencial energético, Itaipu fosse uma bomba
de água, pois ao serem liberadas as comportas, seu volume era suficiente para
inundar Buenos Aires. Após Itaipú a relação política entre os dois países
ganhou teor de desconfianças e belicosidades. (CAPELATO, 2000, pp. 310).
Apesar da “diplomacia da prosperidade” o Brasil ainda
possuía altos índices de pobreza, grande dependência do sistema econômico
internacional e reduzida capacidade militar. Esses fatores que obrigaram o
Brasil a reorientar sua estratégia, assim buscou como alternativa a via da
cooperação e da solução pacífica de conflitos. Essa era uma alternativa viável
para o alcance da sub-hegemonia.
Como as ambições
brasileiras de maior influência global estavam condicionadas por sua condição
de potência média num continente de importância estratégica marginal, o cenário
estratégico do Brasil estava limitado à América do Sul. (CAVAGNARI
FILHO,
2000, pp.133).
A adoção da via da integração e
cooperação sul-americana fez com que o Brasil renunciasse à bomba nuclear no
Governo Collor (1990-1992). Esse esse gesto aproximou Brasil e Argentina. O
controle por meios pacíficos, segundo Cavagnari, asseguraria as condições para
formação de uma poderosa unidade geopolítica sob a hegemonia do Brasil que
abrangeria a América do Sul, o Atlântico sul e o Pacífico sul-americano. Isso
exigiria a integração e a organização do espaço nacional, o fortalecimento da
defesa das fronteiras, o exercício de liderança político-econômica no
continente sul-americano, o estabelecimento de uma saída para o Pacífico e a
neutralização das pretensões de hegemonia de qualquer país no sul do
continente. (pp. 121).
A reflexão sobre a
geopolítica brasileira levou alguns analistas a formular argumentos a respeito
do Brasil que, em parte, chegaram às mesmas conclusões. Os esquemas elaborados
por geopolíticos brasileiros os induziam a atribuir ao Brasil intenções
hegemônicas. A afirmação de que a política externa brasileira era pacifista,
sem qualquer preocupação com o poder e conduzida sem nenhuma perspectiva de
emprego da força, jamais foi levada a sério por tais analistas.
(CAVAGNARI FILHO, 2000, pp.121).
Cavagnari Filho (2000) explica que a
ausência da plena capacidade de utilização da força militar, fez com que a
diplomacia brasileira conduzisse suas ações sob a forma da cooperação. As
Forças Armadas Brasileiras só não utilizariam os meios militares de força por
não existir uma conjuntura interna favorável.
Montenegro (2000,
PP.355, 356) afirma que o Tratado de Cooperação Amazônica acabou se transformando
em importante marco na evolução política das relações exteriores do Brasil. Na
história recente serviu como base para a construção de um “regime
internacional” cujos objetivos seriam reforçar a autonomia dos seus integrantes
(partes signatárias) e desenvolver seus respectivos territórios amazônicos.
Isso previu a utilização racional dos recursos naturais, equilibrando o
desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Sobretudo, favorece a troca
de informações entre os países amazônicos para as iniciativas nacionais de
desenvolvimento.
Na década de setenta,
as relações do Brasil com os países da América do Sul pode ser dividida em duas
fases: a primeira se refere ao governo Médici (1969-1974). Esse período é
marcado pela concentração de esforços políticos no Rio da Prata culminando com
a Questão Itaipu. A segunda fase é marcada pela tentativa de estabelecer
vinculações econômicas com os países da região amazônica, por meio de acordos
bilaterais que permitiriam, ao Brasil, acesso às fontes energéticas dos seus
vizinhos e a abertura dos mercados sul-americanos aos seus produtos.
(MONTENEGRO 2000, PP. 360)
Essa política tem como
resultado o Tratado de Cooperação Amazônica – (TCA). É importante que se
observe o contexto dos anos setenta. Esse contexto abrangia mudanças no sistema
internacional, ocasionados pela crise do petróleo e a recessão da economia
industrializada. O enfrentamento dessa conjuntura exigia decisões conjuntas,
previa ações articuladas no campo econômico. O TCA seria o resultado dessa nova
conjuntura internacional.
Analisando a
viabilidade brasileira para potência, Meira Mattos (1980) via (nos anos 70) o
Brasil como aspirante a superpotência. Afirmava que o país possuia muitos
fatores favoráveis, tais como; o crescimento proporcionado pelo surto desenvolvimentista
daquele período e também estabilidade política, social, densidade demográfica,
extensão territorial e imensos recursos naturais.
A chamada potência média, não há
duvida, é o degrau para a superpotência (...) o quadro de “dados e projeções”
no qual apreciamos dois dos atributos de potência – dimensão geográfica e
população (MATTOS, 1980, pp.31)
Afirmou ainda Meira
Matos (1980) que o crescimento populacional no ano 2000 poderia chegar a 275
milhões. Na verdade o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE) afirmou,
em janeiro de 2004, que a população
brasileira ultrapassou os 180 milhões de habitantes. Porém, o provável erro
de avaliação de Meira Mattos (1980) pode ser justificado, pois segundo o
IBGE... Se o crescimento da população
permanecesse no ritmo dos anos 50 seriamos hoje (2004), 262 milhões de brasileiros. Esse ritmo de crescimento
populacional dos anos 50 não prevalesceu nas décadas posteriores. Isso se deveu
à diminuição da taxa de natalidade ocorrida após a ampliação do número de
mulheres presentes no mercado de trabalho e também à popularização dos métodos
anticoncepcionais. (Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=207
Extraído em17/09/2011)
Meira
Mattos (1980) escrevendo nos anos 70 sobre a perspectiva brasileira de potência
advertia que sua projeção demográfica dependia da manutenção do ritmo acelerado
de crescimento corretamente orientado. Para ele, apenas Brasil e China estavam
conseguindo nos anos 70 manter esse ritmo acelerado de crescimento.
A perspectiva dos próximos 25 anos
vai depender muito da capacidade da China, Brasil e Índia de manterem os seus
programas de desenvolvimento em ritmo acelerado e corretamente orientados; dos
três, entretanto, China e Brasil são os que tem conseguido manter melhor a
continuidade e o ritmo acelerado nos seus programas por caminhos inteiramente
opostos, pois enquanto a China segue o rumo do desenvolvimento socialista numa
sociedade fechada, o Brasil se orienta pelo regime capitalista sob o controle e
no âmbito de uma sociedade democrática aberta (MATTOS, 1980, pp. 84)
Meira
Mattos coloca China e Brasil como os primeiros aspirantes à grande potência.
Ele justifica que isso se deverá aos fatores populacionais, recursos naturais,
indústria, ciência e coesão social interna, harmonizadas e complementares.
Em síntese, análise comparativa
entre China, Brasil, índia e Europa Ocidental integrada ao Japão, que nós
abalançamos a fazer, coloca China e Brasil entre os primeiros aspirantes a
grande potência. Os fatores território, população, recursos naturais,
indústria, tecnologia e ciência e coesão interna, melhor se harmonizam e se
completam, oferecem maiores perspectivas para o futuro, nos dois países considerados.
(MEIRA MATTOS, 1980, pp. 88)
O
alcance da condição de potência dependerá também, segundo Meira Mattos (1980),
da capacidade de atuação do Brasil no cenário internacional e também do suporte
militar que garantiria o nosso desenvolvimento de forma tranqüila, dissuadindo
alguma ameaça possível.
As possibilidades do Brasil, acima
destacadas, irão depender muito da nossa capacidade de atuação política,
econômica e social. Do ponto de vista militar, como enfrentaremos,
inelutavelmente uma competição internacional, teremos que dimensionar uma força
de dissuasão capaz de garantir a tranqüilidade de nosso desenvolvimento. (MATTOS,
1980, pp. 88)
Diferentemente,
Golbery do Couto e Silva (1967) preconizou a integração do território
brasileiro em áreas de baixa densidade populacional. Diante dessa constatação
menciona o sistema chamado, por ele, de tripeninsular que deve considerar três
fases sucessivas na ampla manobra geopolítica. A primeira delas consiste
articular firmemente o nordeste e o sul ao núcleo central do país e ao mesmo
tempo garantir a inviolabilidade da vasta
extensão despovoada do interior pelo tamponamento eficaz das possíveis vias de
penetração.
A
segunda fase seria impulsionar o avanço
para noroeste da onda colonizadora a partir da plataforma central, dessa
forma integraria a região centro-oeste ao Brasil. A terceira fase seria inundar de civilização a hiléia amazônica, pois
ao assegurarmos as fronteiras tornaria necessária a integração do território.
Segundo
Couto e Silva (1967) poderão existir correntes revisionistas dispostas a
contestar a demarcação das fronteiras brasileiras, assim...
Do ponto de vista de possíveis
antagonismos que sempre poderão surgir entre os Estados do continente,
estimulados ou motivos de outra ordem, certo é que o Brasil, de qualquer deles,
nunca deverá se alhear, intervindo para preveni-los, limitá-los ou abrandá-los,
senão fazê-los cessar, dentro do objetivo fundamental de assegurar a paz,
reforçar a unidade continental e manter o status
quo. Somos uma nação territorialmente realizada. Satisfeita com o
patrimônio que detemos á custa de antigos conflitos a que não podemos furtar, e
de uma atuação diplomática perseverante e clarividente; e, pois, não haverá por
onde partilharmos ou sequer transigir com qualquer descabido espírito de
revisionismo de fronteiras. (COUTO e SILVA, 1967, pp.138)
Couto e
Silva (1967) argumenta que a linha de ação que visa integrar o território
nacional poderá contar com uma participação brasileira mais efetiva. Segundo
ele, isso fará também que o país esteja pronto para ação necessária, ou seja, o
pronto remédio frente ao perigo de
desmembramento dessa soldadura continental.
Dentro dessa linha de ação, a
manobra de integração territorial, que há pouco delineamos, vem a calhar
perfeitamente, porquanto representará, afinal, um peso específico muito
superior incorporado à nossa massa de manobra central, e de outro lado,
participação brasileira muito mais efetiva na área vital e decisiva da
soldadura continental cuja estabilidade natural sempre poderá constituir um
perigo a exigir pronto remédio. (COUTO e SILVA, 1967, pp.139)
Para Couto
e Silva (1967) o Brasil, devido à sua dimensão territorial, deve-se tornar cada
vez mais presente na América do Sul. Isso ocorrerá através do desenvolvimento
do potencial dinâmico no núcleo central brasileiro. Para isso torna necessária
a revitalização dos rios navegáveis da faixa de fronteira para que a presença
brasileira se intensifique nessa área. Sobretudo a criação de ligações aéreas e
marítimas entre os centros mais populosos da América do Sul
Do ponto de vista de uma
participação eficaz no desenvolvimento conjunto desta vasta América do Sul, a
responsabilidade brasileira não poderia, por outro lado, ser maior, uma vez
integrante, com parcelas bem significativas do seu território e de sua
população, de todas áreas geopolíticas do continente. E nossa maior
contribuição não poderá ainda ser outra que não a de tornar cada vez mais
ponderável a nossa presença aí, com a contribuição mais imediata do potencial
dinâmico do núcleo central brasileiro, distendido para mais junto delas. Nesse
particular, importa salientar, pelo menos, a importância da vitalização dos
rios navegáveis de toda a faixa fronteiriça onde a bandeira brasileira precisa,
no mais curto prazo, fazer-se não só presente, mas assídua, e, além disso, a
necessidade de concurso nacional, de fato representativo, nas ligações tanto
aéreas como também marítimas, entre os principais centro populosos dos países
sul-americanos. (COUTO e SILVA, 1967, pp.139)
Tílio Neto (2009,
pp. 25) explica as diferentes concepções de Meira Mattos e Golbery do Couto e
Silva sobre a projeção continental brasileira. Para ele Meira Mattos defendia a
concepção de Pan Amazônia, ou seja, a idéia de que o desenvolvimento da região
dependia de um projeto comum a todos os países amazônicos. Diferentemente,
Golbery defendia a idéia de que o tamponamento das áreas vulneráveis da fronteira
amazônica, ou seja, a manutenção das fronteiras e a articulação das regiões
brasileiras seriam fatores decisivos para a projeção continental brasileira e
também fator de desenvolvimento da América do Sul.
Bibliografia.
CAVAGNARI
FILHO, Geraldo Lesbat. Estratégia e Defesa. In: ALBUQUERQUE, José A. G. Sessenta anos de
política externa brasileira (1930-1990): prioridades, atores e políticas.
São Paulo: Annablume/NUTRI/USP, 2000.
CAPELATO, Maria Helena. O
“gigante brasileiro” na América Latina: ser ou não ser Latino-Americano.
In: Viagem incompleta: a experiência
brasileira (1500-2000): a grande transação/ Carlos Guilherme Mota organizador.-
São Paulo:Editora SENAC São Paulo, 2000.
_______________________.
América Latina. Integração e História comparada em Filomena Gebran e
Maria Tereza T. B. Ramos (orgs.) América Latina: cultura, Estado e sociedade. Rio
de Janeiro: ANPHLAC, 1994).
COUTO E
SILVA, G. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967.
GRAEL,
Dickson. Aventura, corrupção e terrorismo. À sombra da impunidade.
Petrópolis: vozes: 1980.
MATTOS,
Carlos de Meira. Uma geopolítica pan-amazônica. Rio de Janeiro:
Biblioteca do Exército, 1980.
MONTENEGRO, Manuel. Política externa e cooperação amazônica: negociação do Tratado de Cooperação Amazônica. In: Albuquerque, José Augusto G. Sessenta anos de Política Externa Brasileira (1930-1990) Prioridades, Atores e Políticas. São Paulo: Annablume/NUPRI/USP, 2000; (Coleção Sessenta anos da Política Externa Brasileira, V.04).
NEEDLEMAN,
Ruth. Bolívia: Brazil’s geopolitical prisioner.
NACLA’s Latin America & Empire Report, 8 (2): 24-26,1974
TILIO NETO, Petronio de. Soberania e Ingerência na Amazônia Brasileira. São
Paulo: Plêiade, 2009.




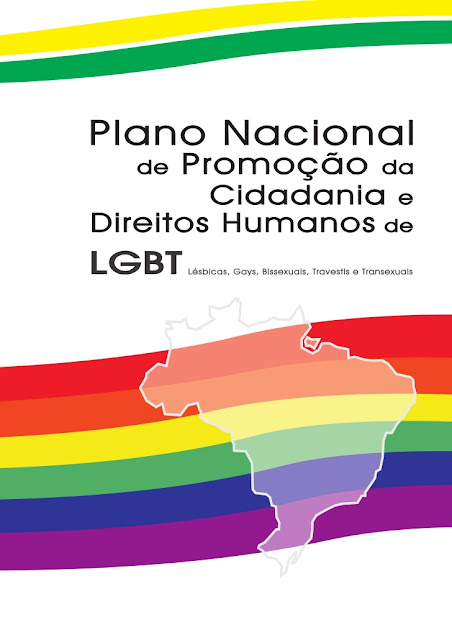
Comentários
Postar um comentário