Coroa, nacionalismo e desenvolvimento no Brasil do século XIX.
Escrito por Samuel de Jesus
Considerações iniciais
Se o
processo de formação e consolidação do Estado Nacional francês contou com os
seus principais teóricos, podemos afirmar que o Brasil também contou com os
seus. Dentre eles, destacamos três imprescindíveis às nossas reflexões: o
primeiro, Oliveira Viana, que mesmo não vivendo no século XIX e tendo suas
convicções políticas formadas no regime republicano, vislumbrou no Império
Brasileiro a possibilidade histórica de unidade. A unidade aplacaria os
regionalismos da política brasileira, que era, para ele, traço marcante da
falta de idealismo nacional.
O segundo é Joaquim Nabuco, crítico e militante do movimento
abolicionista e um dos atores políticos mais destacados da segunda metade do
século XIX. Para ele o nosso subdesenvolvimento se devia à escravidão.
Acreditava na ética do trabalho concebida dentro da monarquia. Sua via inglesa
tinha como inspiração o reinado da rainha britânica Vitória. A era vitoriana
simbolizou o período de apogeu da Inglaterra, ascensão que combinou monarquia e
Revolução Industrial.
O terceiro, mais radicalmente defensor da monarquia, é André Rebouças.
Para ele a República brasileira não aconteceria a partir dos mesmos princípios
que nortearam a formação da República norte americana. Aqui, foi fundada e
ocupada pelos militares nos primeiros anos e mais tarde arremessada por eles
mesmos no colo das oligarquias estaduais (leia-se São Paulo). Dessa forma a
política se interiorizava e se apartava do povo e das convicções de progresso
material para todos. Viana, Nabuco e Rebouças acreditavam que a unidade,
trabalho conduziriam o país à modernidade. Seus pensamentos refletem as bases
em que estava assentada a política brasileira na segunda metade do século XIX.
O pensamento desses homens é resultante das profundas transformações
econômicas, políticas, sociais e culturais vividas pelo ocidente no século XIX.
O avanço das democracias marcava o rompimento definitivo com o Antigo Regime e
as transformações do sistema produtivo permitiam que o modo de vida burguês se
consolidasse definitivamente. A acumulação de capitais iniciada nos séculos
XVII e XVIII na Inglaterra, a criação dos cercamentos para o desenvolvimento da
ovinocultura, assim como o vertiginoso crescimento populacional que impulsionou
o aumento da produtividade e a conseqüente superação dos processos artesanais,
proporcionaram uma revolução Industrial sem precedentes.
A fábrica, nova unidade produtiva, com organização racional, controle
dos trabalhadores, busca da produtividade e geradora de lucros; representa o
fim do processo de transição do modo de produção artesanal para o racional. Os
tempos modernos surtiam efeitos no pensamento social brasileiro. Os modelos
modernos do desenvolvimento europeu deveriam ser considerados no momento de
formulação dos projetos para o desenvolvimento Brasileiro. O caminho para a
prosperidade. Embora, Viana, Nabuco e Rebouças, divergissem com relação ao
modelo a ser adotado.
E o que vem a ser modernidade? Quais as definições de seu conceito?
Será o primeiro aspecto a ser definido dentro da configuração; Coroa, unidade e
modernidade. Buscamos em Balandier[1] o
conceito de modernidade.
Não somente toda modernidade é relativa, como é vista
enquanto efeito das relações de competição no interior do sistema
internacional; visa aumentar a qualidade da sociedade ‘em relação a outras
sociedades[2]’.
O termo “modernização” determina os caminhos e
os meios pelos quais uma sociedade constitui um conjunto de características
comuns aos países mais avançados, no que se refere ao desenvolvimento
tecnológico, político, econômico e social.
Oliveira Viana e a emergência
da unidade.
Oliveira Viana, era
jurista, professor, etnólogo, historiador e sociólogo, nasceu na localidade
fluminense do Rio Seco de Saquarema, em 20 de junho de 1883. Depois de estudar
e investigar, durante anos, as questões da formação brasileira, publicou Populações meridionais do Brasil, em
1922 e os livros subseqüentes, tais como Pequenos
Estudos de Psicologia Social (1921) e Evolução
do Povo Brasileiro (1923), Raça e assimilação
(1932), O Ocaso do Império (1925) e O Idealismo na Constituição (1927).
Especializado em questões
trabalhistas, no Ministério do Trabalho, Foi um dos membros da comissão
que concebeu o tipo de legislação trabalhista que redundou na Consolidação das
Leis de Trabalho - (CLT) brasileira em 1942. Com vários outros estudiosos das questões sociais,
organizou a lei relativa ao imposto sindical e da qual fixou normas para o
quadro das atividades e profissões. Após o seu ingresso na Academia Brasileira
de Letras, publicou mais três livros, entre os quais Instituições Políticas Brasileiras, em dois volumes. Oliveira
Viana, visualizou na realidade brasileira a ausência de um ideal nacional que impossibilitaria o país de alcançar a
democracia, um estado de plenos direitos. De acordo com suas convicções, o
regionalismo representou grande barreira para o estabelecimento do
nacionalismo, pois ocasionou vivências e sentimentos regionais e não nacionais.
Afirmava que o modelo colonizador calcado no sistema de Capitanias
Hereditárias e a grande dimensão do território brasileiro geraram uma população
dispersada em núcleos regionais. A Capitania Hereditária foi parte dos esforços
do Estado português em promover a ocupação sistemática do território. Sua
estrutura consistiu na divisão territorial em lotes gigantescos concedidas a
altos funcionários das cortes, chefes militares e membros da baixa nobreza,
chamados Capitães Donatários. Nas quinze capitanias cada donatário possuiu
amplos poderes. Dentre eles o de exercer a justiça, criar cargos, nomear
funcionários, conceder lotes de terras (as chamadas sesmarias). No entanto, uma
de suas obrigações era iniciar o cultivo da terra em cinco anos.
Nos primeiros tempos, foi concedido ao capitão donatário poderes como
criar e gerir a administração, os quais em Portugal eram exclusivos do rei. Além
do controle burocrático o donatário possuiu um relativo poder econômico que
estava ligado ao engenho, unidade produtora que contava com o trabalho escravo.
Mas seu poder era ainda mais amplo. Além de ter as armas, criara um aparato
coercitivo sobre o comando do feitor, representante direto da Casa Grande. Ao
feitor e aos seus capangas foi reservado o papel de poder armado da ordem
senhorial: controlava os escravos, protegia a fazenda contra os ataques
indígenas.
O Engenho era a unidade de produção de açúcar. Ele deu em tese, poder
econômico à família senhorial. Incluía o canavial, as pastagens, as máquinas.
As capitanias hereditárias suscitaram, numa certa medida, confusão entre o
público e o privado, pois as atribuições públicas eram exercidas por indivíduos
com interesses particulares que tratavam a coisa pública como privada. Desta
forma o clã parental, na formação do
Brasil, foi resultado de um modelo implantado para dar sucesso ao processo
colonizador tendo como formula básica a Capitania
Hereditária. Dela, os laços familiares se estenderam por toda a capitania,
seja do parentesco direto, indireto ou dos laços de amizade.
As capitanias guardavam semelhanças com o modelo feudal europeu.
Desenvolveram-se com base na agricultura e nos moldes da exploração do
trabalho. Seguindo a linha oliveiriana, podemos afirmar que a divisão
territorial propiciada pela Capitania Hereditária exerceu demasiada influência
sobre a conjuntura política. No momento em que dividiu o território em
capitanias, a Coroa Portuguesa gerou uma fragmentação política no território,
pois o sistema fazia com que as capitanias ficassem ligadas à metrópole e sem
vínculos entre si.
Podemos
salientar que o autor vê na conformação política brasileira a ausência de uma ideal nacional e a preponderância de um
regionalismo fomentado pelo modelo colonizador das capitanias. Afirma que
espírito individual se converterá em falta de idealismo e ausência de um
projeto de país.
(...) Nada disto, nem sentimentos, nem
estrutura são produtos de improvisação, e sim do tempo dos fatores históricos,
dos fatores sociais, dos fatores econômicos, dos fatores agrários. Somos um
país de baixa densidade demográfica de população dispersa e ganglionar, 80% da
sua população vive sob uma organização econômica rudimentar, de caráter quase
inorgânico, sem diferenciações acentuadas e por isso mesmo, sem sensíveis
antagonismos de classe, a não ser em alguns centros mais industrializados da
região Sul.[3]
Ou ainda:
(...) O Brasil, não possui uma sociedade
liberal, mas ao contrário, parental, clânica e autoritária. Em conseqüência um
sistema político liberal não apresentará desempenho apropriado, produzindo
resultados sempre opostos aos pretendidos pela doutrina. Não há um caminho
natural pelo qual a sociedade brasileira possa progredir do estágio que
encontra-se até se tornar liberal (...) O Brasil precisa de um sistema político
autoritário cujo programa econômico e político seja capaz de se transformar em
liberal. Em outras palavras seria necessário um sistema político autoritário
para que se pudesse construir uma sociedade liberal.[4]
Oliveira Vianna defendia a centralização política, um sistema coeso e
ordenado não porque tivesse caráter reacionário ou tirânico na defesa de
privilégios de uma camada dirigente. Suas idéias tinham o espírito coletivo. O
desenvolvimento nacional deveria ser dirigido por um Estado centralizador, mas
a regionalização impedia a construção de um projeto nacional, um projeto de
país. Embora nunca tivesse escrito uma teoria sobre o Estado, Oliveira Viana
defende a federação como modelo ideal para o Brasil, pois dessa forma seriam
respeitados os sentimentos regionais congregando-se as forças políticas e
econômicas.
O fato de nunca ter teorizado sobre o Estado é lembrado pelo professor
Nilo Odália[5]:
Não existe na obra de
Oliveira Vianna uma teoria do Estado. O Estado contém particularidades que
obedecem a condicionantes peculiares como um verdadeiro camaleão cujas cores se
alteram segundo suas conjunturas históricas, no caso brasileiro deveria ser superada
as inconveniências ocasionadas pelos fatores geográficos para se constituir uma
nação solidária socialmente[6].
As dimensões continentais do território brasileiro, para Oliveira
Vianna[7],
criaram núcleos regionais que não se intercomunicavam. As populações uma vez
isoladas desenvolveram sentimentos e representações regionais. Seria de
fundamental importância para a construção do Estado brasileiro a superação
desses localismos e diferenciações regionais ou a sua integração no concerto
nacional.
Joaquim Nabuco: abolicionismo e prosperidade
Joaquim Nabuco fora parlamentar no Brasil Império, liberal,
abolicionista ferrenho e filho do ex-senador Nabuco de Araújo. Poderia ser
considerado o “inglês”, pois idealizou uma via de desenvolvimento para o Brasil
nos moldes do sistema político inglês. A via inglesa fora idealizada no período
em que viveu na Inglaterra em missão diplomática. A este período se deve a
formação de suas concepções políticas liberais e abolicionistas. Para ele, a
monarquia possibilitava a unidade nacional e encaminharia o Brasil rumo à
sociedade liberal. A escravidão e o apego da sociedade brasileira à ociosidade
seriam os traços de nosso subdesenvolvimento deveriam ser banidos do país. O
Brasil da perniciosa preguiça que não tem mãos calejadas do trabalho.
Em O abolicionista sua
principal obra ele explana essas idéias:
A escravidão
impossibilita o progresso material do país, corrompe-lhe o caráter,
desmoraliza-lhe os elementos constitutivos, tira-lhes a energia e a resolução
(...) impede a imigração, desdenha o trabalho manual, retarda o aparecimento
das indústrias, promove a bancarrota, desvia os capitais do seu curso natural.[8]
Afirmava, com uma amargura, que a escravidão e o processo de
colonização da América foi um duro preço a pagar, pois resultou em
desenvolvimento inorgânico artificial e extenuante do Brasil.
A história da
escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que não se
pode sondar, e, infelizmente essa é a História do crescimento no Brasil[9].
Sonhara com uma sociedade liberal
brasileira que se desenvolvesse sob a égide do trabalho livre, no qual o Brasil
fosse convertido, definitivamente, em uma sociedade liberal dos trópicos. De
fato, o Brasil não mostrava nenhuma vocação dessa natureza. Uma vez rompidos os
laços coloniais, resistiram às velhas estruturas produtivas que deformavam o
caráter nacional.
JÁ EXISTE, FELIZMENTE, em nosso país, uma
consciência nacional em formação, é certo – que vai introduzindo o elemento da
dignidade humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de
hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte[10].
Rebouças e a construção da
modernidade.
André Pinto Rebouças
nasceu na cidade de Cachoeira, na Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838, filho de
Antônio Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças, o pai, mulato, advogado
autodidata, chegou à Câmara dos Deputados como representante da Bahia, foi
também conselheiro do Império, a mãe, filha única do comerciante André Pinto da
Silveira do qual André Rebouças herdou o nome. Tiveram oito filhos, sendo André
o primogênito. André foi muito ligado a Antônio, seu irmão e grande companheiro
ao longo da vida. Engenheiro formado estudou na Escola Militar, (posteriormente
chamada Central), na Politécnica, no Largo de São Francisco em março de 1854 e
na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. André Rebouças bacharelou-se em
Ciências Físicas e Matemáticas em 07 de abril de 1859 e obteve o grau de
engenheiro militar em dezembro de 1860.
Ele e o irmão foram
comissionados do Estado brasileiro para trabalhos de vistoria e aperfeiçoamento
de alguns portos e fortificações litorâneas, tidos como estratégicos à defesa
da soberania brasileira. Em 1965 André foi convocado para a Guerra do Paraguai,
na condição de engenheiro militar (entre maio de 1865 e julho de 1886), com a
saúde debilitada retornou ao Rio de Janeiro.
André participou da
“construção do Porto da Cidade do Rio de Janeiro”, e de outros portos do País,
esteve à frente de projetos de obras ferroviárias e de abastecimento de água.
Foi “construtor das primeiras docas no Rio de Janeiro, no Maranhão, na Paraíba,
em Pernambuco e na Bahia”. De fato ganhou notabilidade como engenheiro ao
elaborar e executar o plano de abastecimento de água na cidade do Rio de
Janeiro, durante a seca de 1870. Na
década de 1880, André se engaja na campanha abolicionista e participa da
fundação de algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira contra a
Escravidão, a Sociedade Abolicionista e a Sociedade Central de Imigração.
Vislumbrava também o
nacionalismo coroado, embora suas convicções o direcionassem para o modelo
social norte-americano, Rebouças, o
“Yankee”. A Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 fez com que
André Rebouças partisse para o exílio, na Europa, junto com a família imperial.
Para ele a República representava a ascensão do militarismo, fim da unidade
política e predominância do agrarismo, o retorno à velha ordem.
Maria Alice Rezende de Carvalho[11] escreve que Rebouças entendia sua
profissão, engenheiro, não como uma oportunidade de acesso à burocracia estatal
empreguista. Ele enxergava a engenharia civil como instrumento para o progresso
do Brasil. Suas obras comportavam um tipo de atividade moderna que não era
aceita no Império. A engenharia para Rebouças era instrumento de modernização
do país. Seus projetos tinham uma concepção nova e arrojada, sempre a serviço
do progresso.
... De modo que, em
Rebouças a passagem dos nos 70 para os 80 pode ser entendida como uma transição
do “yankismo”, isto é, da crença da utilidade social do interesse individual
para a defesa de uma via de modernização (cuja referência aos casos alemão e italiano
seria a ilustração mais eloqüente). Nesse sentido, pode-se dizer que a
“demarche” de Rebouças na década de 1880 constitui-se em acomodar a preservação
da via norte-americana de modernização a abdicação da forma racional de realizá-lo
no Brasil, a revolução democrática e agrária popular, resolvendo-a nos termos
de uma “americanização” adaptada implicou, por suposta, a consideração de
história nacional. [12]
Para Rebouças a hegemonia norte-americana considerava o interesse dos
excluídos, dos povos, das classes e pautava-se pela democratização social de
modo a que todos tivessem acesso à autonomia e riqueza. Maria Alice destaca os
antagonismos existentes entre a via de Rebouças e Joaquim Nabuco quanto ao
desenvolvimento do Brasil. Para ela, a filosofia de Nabuco era mais
esteticamente e eticamente inglesa, precisamente a Inglaterra oitocentista e
vitoriana. Essa via guardava muitos aspectos do velho sistema de forças
europeu, a qual tinha suas bases assentadas no sistema colonial e na exploração
do trabalho.
O cetro, a coroa: unidade.
Sobre
Oliveira Viana, Joaquim Nabuco e André Rebouças é preciso dizer que a centralidade
de suas teses refere-se à questão da unidade que se cola às discussões sobre a
via do nacionalismo coroado. Para eles a defesa da monarquia é, sobretudo, a
defesa da estabilidade política como elemento decisivo para a prosperidade do
Brasil. Segundo Nelson Werneck Sodré o
grande problema político a que se tem que defrontar o Segundo Império, no seu
início é a da unidade, a inquietação que sacudia todas as províncias e que
colocava em xeque a independência. O segundo imperador era a única figura política
que poderia representar a coesão e iniciar o processo de consolidação do Estado
Nacional brasileiro[13].
De acordo com Sodré:
Pode-se afirmar que, nas duas décadas que vão
dos tempos que antecedem a independência até o advento do Segundo Império, passando
pela fase tormentosa da Regência, não houvesse ano que a agitação não se
erguesse em armas e que a desordem não levantasse o colo. A inquietação
sacudiu, uma a uma, todas as províncias. Aqui com mais profundidade, procurando
moldar-se em postulados políticos diversos à ordem dominante. Ali sem chegar a
tomar formas, sem atingir a um grau de perigo iminente. Mas em toda parte
anseios desiguais conduzindo ao caos[14].
A instabilidade política do Brasil regencial era preocupante.
Seguramente, podemos afirmar que, naquele momento, a Independência estava sendo
colocada em xeque. A unidade seria a garantia de sua manutenção, pois de outra
forma seria iminente o esfacelamento do jovem país e a transformação das
províncias do Maranhão, Pará, Bahia e Rio Grande do Sul em Repúblicas
independentes. A figura do Monarca representaria a unidade política necessária.
Desta forma não seria ousado afirmar que o golpe da maioridade foi decisivo
para a conformação política do país no século XIX.
Afirma Lilia Moritz Schwarcz em As barbas do Imperador[15]:
...como símbolo da
união, a realeza parecia ser a melhor saída possível para evitar a autonomia e
possível separação das províncias; somente a figura de um rei congregaria esse
território gigantesco, marcado por profundas diferenças. É assim que as elites
locais optam pela monarquia, na esperança de ver no jovem rei um belo fantoche[16].
A classe política imperial, dentre eles; o próprio regente Araújo Lima
e também, Eusébio de Queiroz, Bernardo Pereira de Vasconcelos e os Andradas,
não pareciam convencidos da possibilidade de continuidade do Regime Regencial.
Era necessário o cetro e a aura imperial, pois somente estes
instrumentos poderiam pacificar o país. Segundo José Murilo de Carvalho[17] a
centralização do poder ofereceria a ilusão de que o Império seria responsável
por tudo aquilo que ocorreria de bom ou ruim no Brasil.
O nacionalismo seria coroado para Oliveira Vianna, Joaquim Nabuco e
André Rebouças. Representava a centralização política do país e componente
vital para o desenvolvimento brasileiro. Sobre a aura e cetro imperial nos
converteríamos em uma sociedade liberal. Com o advento da República, saem de
cena e se auto-exilam politicamente e geograficamente.
Diferentemente desses pensadores, José Murilo[18]
considera a política brasileira, no século XIX, um teatro de sombras onde a
figura do imperador é manipulada por uma elite política de proprietários cujas
bases estavam assentadas nas províncias. Aqueles que a compõe são os
verdadeiros donos do poder que se aliam ao monarca e que permanecerão aliados
dele até quando suas conveniências os permitirem.
No seu livro Teatro de Sombras
afirma:
A enorme visibilidade
do poder sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas pompas, seus
rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização
política do Estado. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado
como sendo excessivo e opressor, ou pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal,
da liberdade individual. Mas (...) este poder era em boa parte ilusório. A
burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça muito grande e braços
muito curtos. Agigantava-se na corte, mas não alcançava as municipalidades e
mal atingia as províncias (...) daí a observação de que, apesar de suas limitações
no que se referia à formulação e implementação de políticas, o governo passava
a imagem do todo poderoso, era responsável por todo bem e por todo mal do
Império[19].
O Império pacificou-se pela ação das elites que lançando a carta maior
no jogo político – a da conciliação – pactuam. Isso proporcionará um período de
franca estabilidade nas décadas seguintes à maioridade. Nesse momento a
centralização atingiu seu ponto máximo. A monarquia não enfrentaria
contestações, a sociedade passava a ser dominada pelo Estado. Assim, os
partidos, calados e reverentes, entram em recesso, freados pela Conciliação
(1853-57). Os ódios antigos pareciam mortos, as revoluções sepultadas e os
protestos extintos. Ao longo ao Segundo Reinado, período compreendido entre
1840 a 1889 a grande questão a ser resolvida era a da substituição da mão de
obra escrava.
O acirramento da pressão inglesa para o fim do tráfico de escravos e a
substituição do trabalho escravo fez com que fosse inevitável a elaboração de
uma saída oficial para a questão da mão de obra. Assim teve início discussões
sobre imigração, o que aproximou o governo dos grupos liberais e conservadores.
Evaldo Cabral afirma que um dos pontos fundamentais de disputa entre a
grande lavoura do norte e do sul foi o tráfico interprovincial de escravos. É
ilustrativo o projeto do deputado José Maurício Wanderley, barão de Cotegipe,
que defendia a proibição do tráfico interprovincial de escravos. Seu projeto,
apesar de contar com o apoio da bancada nortista, foi rejeitado pelo gabinete
conservador e pelas províncias cafeicultoras que tinham interesse no negócio.
A
elite agrária nortista reclamava da ação estatal a qual estava voltada aos
interesses da produção de café no sul do Império. De fato, o fim do regime
monárquico em 1889 representou uma perda maior do poder que ainda restava a
eles no jogo de forças políticas do Segundo Reinado. A crise econômica na
segunda metade do século XIX fez com que os donos da grande lavoura nortista
mudassem de idéia quanto à proibição do comércio interprovincial de escravos.
Aproveitando-se da maior disponibilidade da mão-de-obra escrava, o norte
começou a desfazer-se dos seus escravos para conseguir recursos em momentos de
má safra ou de uma forte queda dos preços ou até mesmo incremento das taxas de
juros.
O
norte reclamava também da política do governo com relação à imigração italiana.
Chamavam-na imigração dirigida. Ela
foi uma das maiores diásporas vistas no século XIX, resultado da
impossibilidade de adaptação de frações da sociedade italiana às inovações das
técnicas de produção que, em seu país, atingiam tanto a cidade quanto o campo.
O Brasil absorveu parte deste
contingente. O governo não deixou a imigração inteiramente nas mãos da
iniciativa privada. Assim, não poupou esforços para custear as passagens,
alojamentos e alimentos. Foi decisivo em relação à imigração.
Segundo os nortistas essa ação foi favorável também ao sul.
O norte não se
beneficiou dos favores. Foram raras e quanto tiveram lugar, invariavelmente
fracassaram as tentativas feitas, inclusive nas suas grandes províncias como
Bahia, Pernambuco, cuja influência pesava na política geral. Nem mesmo durante
o auge da imigração dirigida, isto é, aos anos do gabinete Rio Branco, colheu o
norte qualquer qualidade tangível.[20]
Destacamos ainda, o depoimento do cearense Alencar Araripe -
parlamentar, conservador e representante das províncias do norte. Seu
depoimento data de 1877. Em tom de denúncia afirma:
“Os cofres públicos de há muito, tem estipendiado, a colonização do
Brasil. Essa colonização traz a essas províncias dois imediatos proveitos: O
acréscimo da população e o aumento da riqueza. Sei que tudo isso redunda em
benefício geral para o império, que não deve ter seleção de territórios, mas
sei também que a desigualdade pode gerar pré-conceitos. Ao passo que a
população e a riqueza do sul crescem, com o emprego do dinheiro dos cofres
nacionais, as províncias do norte ficam privadas de igual benefício. Daqui um
desequilíbrio de forças e o natural reparo, por que se, com efeito, apenas uma
parte do império dermos meios de prosperidade ficará a outra parte em condição
desigual, levanta uma parte com rápido progresso, enquanto a outra marcha
lentamente. ”[21]
Este
pronunciamento reflete o clima do período e mostra também o argumento usado
pelas províncias ao norte do país, o de que o norte é a parte mais afetada na
distribuição dos recursos. A estabilização monárquica se estendeu também aos
grupos políticos do Império Brasileiro.
O mundo político, a partir de 1836, girou em torno da luta travada entre
o partido liberal e o conservador. Diante da precariedade da estrutura política
e eleitoral, a classe política somente encontrava sustentação no imperador.
Segundo essa tese, a Câmara dos Deputados era alienada ao monarca. No século
XIX era eleito somente aquele candidato pertencente ao grupo agraciado pelo
poder. A máquina burocrática se convertia em instrumento de poder nas mãos
daqueles que a controlavam. Liberais e
conservadores, a ação política destes dois grupos não se diferenciava na
prática[22].
O escritor Ilmar Matos[23]
salienta que mesmo o liberal dos liberais não o é, integralmente, neste tipo de
sociedade escravista como era a brasileira, pois o trabalho escravo permeou a
economia agrária e escravocrata do Império. A classe política Liberal não
poderia prescindir do trabalho escravo.
Um liberal, luzia, era em
muito parecido a um conservador, Saquarema,
pois os interesses em questão, ao qual todos estavam ligados, referia-se ao
latifúndio, ao escravismo e ao mundo agrário[24].
A charge acima publicada no jornal O
mequetrefe em 09 de janeiro de 1878, demonstra as posições ocupadas pelos
principais atores políticos no Segundo Império. Ao centro, impulsionado pela
diplomacia política, está o imperador que gira o carrossel político; os
cavalinhos são ocupados pelos membros do partido conservador e do partido
liberal.
Os Saquaremas formavam um grupo necessário. Eles eram os empreendedores
do Estado e constituíram as bases sociais, econômicas e culturais do Brasil
Império. O Estado Imperial era o seu suporte mais importante e nem mesmo o
imperador foi capaz de fazer-lhe oposição. A coesão que permitiu às forças políticas,
liberais ou conservadoras, se organizarem em torno do poder imperial teve como
objetivo a estabilidade política e superação do problema da substituição do
trabalho escravo pelo livre. Para Faoro[25],
governar consistia em proteger, guiar e orientar a camada que detinha o poder
econômico. Para que a combinação funcionasse, seria necessário um entendimento
com os especuladores, o alargamento da camada dirigente e uma quantidade grande
de funcionários à ordem do Estado.
Define:
A reação centralizadora
e monárquica conservadora e oligarquica trilhou o caminho da tradição à sombra
de D. João I e D. João VI, ela forjou um imperador e o imperador a consolidou.[26]
A oposição ao nacionalismo coroado: o coronelismo
Na República, o município passou a ocupar um lugar de destaque na nova
ordem política. Escreve Vitor Nunes Leal[27] em Coronelismo, enxada e voto que a Guarda Nacional surgiu em 1831 e que sua função
era substituir as milícias e ordenanças do período colonial. Em sua hierarquia
era o coronel o comandante municipal ou regional. Essa nomeação recaia sobre
pessoa socialmente qualificada, em regra, detentora de riqueza.
O coronel era o homem
mais influente do local. Tinha controle da burocracia e dispunha dos meios
coercitivos. O município, na maior parte das vezes, era pobre e dependente do
Coronel. Quando ele era agraciado pelo Estado com rendas, seu poder aumentava.
Desta forma passava a controlar a administração. Em muitos casos, quando havia
dois ou mais grupos políticos presentes na localidade, a conseqüência era
ascensão de uma sobre a outra.
O controle pelo coronel da base eleitoral
do município se dava pelo voto de cabresto. O voto aberto obrigava os eleitores
a declarar em quem votariam. Dessa forma o resultado poderia ser feito de
acordo com os interesses do grupo político obediente ao coronel. O homem
simples devia favores, sentia-se grato, tinha uma obrigação, pois conseguiu das
mãos do coronel um emprego, um artigo de primeira necessidade, etc.
Emília Viotti da Costa[28]
destaca a dependência dos grupos urbanos com relação às oligarquias rurais no
período posterior a independência (1822). A legislação desse período não concedia
autonomia às cidades, restringia seus recursos financeiros, tornando-as
dependentes do poder provincial. Na prática isto mantinha os grupos urbanos
dependentes das oligarquias rurais que controlavam as legislaturas,
administração e a justiça provincial.
Outra visão é a de Maria Sylvia de Carvalho Franco no livro:
Homens livres na ordem escravocrata, onde
descreve o compadrio como instrumento
de dominação pessoal. Ressalta a importância do batismo dentro deste processo,
pelo fato dele estabelecer ritualmente um
parentesco divino entre seres que se reconhecem originalmente, como da mesma ordem natural, como pessoas. Dessa
forma, criava-se um nível de relação interpessoal: os compadres, o padrinho e
afilhado, laços fortes entre camadas economicamente distintas, por exemplo,
fazendeiro e sitiante[29].
A relação entre o fazendeiro e o sitiante se dava também em
nível econômico. Quando um sitiante queria comprar “um pedaço de terra”
recorria ao fazendeiro que lhe emprestava dinheiro. Agradecido, o sitiante
transformava-se em seu eleitor ou cabo eleitoral.
Sua adesão em troca dos benefícios
recebidos é tão automática que nem sequer são tomadas as medidas que assegurem
seu voto; tão pouco se cogita de influência para atrair eleitores cuja
fidelidade está definida para com o lado contrário. Umas seriam desnecessárias
e outras inúteis[30].
Considerações finais
Os Monarquistas desconfiam dos projetos dos republicanos. Acreditam
serem, os republicanos, defensores de uma ordem que desagregaria os projetos
nacionais como a industrialização. Fariam apenas um reajustamento da estrutura
exploratória, este reajustamento tinha como base o trabalho do imigrante. Os
monarquistas concebiam a república como o atraso. Para eles o Império propiciava
a centralização por meio do atendimento de várias demandas regionais. A
república significaria a hegemonia política da região sudeste através dos
produtores de café. A perda novamente da unidade nacional e a conversão das
políticas econômicas e de Estado aos interesses de uma região colidiriam com um
projeto nacional moderno.
A impossibilidade do Estado imperial de subsidiar a produção, como
vinha sendo feito há décadas, gerou o fim do mecanismo com o qual se mediavam
conflitos e propiciavam a estabilidade. O assalariamento, pensavam, geraria
mudanças profundas na estrutura econômica brasileira, então baseada no
escravismo. A República
representará o predomínio da localidade, do mundo rural, patriarcal,
clientelista. Os mecanismos democráticos não foram constituídos, ao longo do
Segundo Reinado, embora vivêssemos, na prática, em um sistema monárquico
parlamentarista, o Estado não possuía capilaridade e seus tentáculos não
alcançavam a localidade, o interior, os grotões. Ali, preponderava a influência
e o poder do chefe político local, o coronel, o fazendeiro, que protegia,
assistia, estabelecia o código, julgava e punia.
A
centralização monárquica é relativa. O império era sustentado por uma ordem de
conveniências e necessidades. O monarca cidadão deveria considerar o povo como
cidadão, não súdito. Considerar o povo cidadão seria universalizar a educação,
atender as demandas sociais, mesmo no ermo mais profundo.
O
monarca cidadão não representava um mundo liberal, seus domínios eram o inverso
daquela sonhada civilização européia. Nos trópicos prevalecia a “gentalha” e
seus estranhos costumes avessos aos hábitos e práticas do velho mundo. O
monarca era um diletante e sua prática diferia de suas idéias. Ele não era
produto de seu meio, nem tão pouco refém das “elites”. No seu longo reinado
equilibrou-se, tinha um instrumento fabuloso, o Poder Moderador, mas não
permaneceu atento ao movimento da balança do poder, nem criou novas bases de
sustentação de seu poder (que poderia ser o povo), pelo contrário,
recrudesceu-se e fez inimigos que não poderiam ser subestimados como os
militares que possuíam as armas e as usariam para colocar fim em seu Império
cuja estrutura já comprometida, esperava somente o vento das mudanças para que
ruísse definitivamente.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado
Absolutista. São Paulo, brasiliense, 1985.
BALANDIER, Georges.
O Contorno. Poder e Modernidade. Rio de. Janeiro: Bertrand
Brasil, 1997. Pp.149, 1997
BENDIX, Reinhard. Max
Weber: um perfil intelectual. Brasília, DF: Editora Universidade
de Brasília, 1986.
BASTOS, A. C. Tavares. Os males do presente e as esperanças do futuro: estudos
brasileiros. São Paulo: Nacional, 1976.
CALDEIRA, Jorge. Mauá: o empresário do Império. - São Paulo: Companhia das Letras,
1995.
CALÓGERAS, Pandiá - A Política Monetária do Brasil,
Cia. Editora Nacional, São Paulo, 1960.
CARREIRA, Liberato de Castro, História Financeira e orçamentária do
Império no Brasil. Brasília;
Senado Federal, 1980.
CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas: o imaginário da República no Brasil.-São
Paulo: editora Companhia das Letras, 1990.
_________________________. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi.-São
Paulo: editora Companhia das Letras, 1997.
CARVALHO, Maria Alice de Rezende. O quinto século: André Rebouças e a
constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, Iuperjucam, 1998.
COSTA, Emilia Viotti da. Da senzada à colonia. São
Paulo: Editora UNESP, 1998.
COSTA, João Severino da. Salgado, Graça. Memórias sobre a escravidão. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1988.
FAORO, Raimundo. Os donos do Poder. São Paulo: Globo, 1991.
FREYRE, Gilberto. Casa
grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 32 ed, 1997.
_________________. Sobrados e Mucambos: introdução
da história da sociedade patriarcal no Brasil, decadência do patriarcado
rural e desenvolvimento do urbano. ? 1961.
GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
LEAL,
Victor Nunes. Coronelismo, enxada e
voto.
São Paulo: Alfa-Omega, 1978.
MATOS, Ilmar Rohloff. O tempo Saquarema. Brasília: Rucitec, 1987.
MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império 1871-1889. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984.
MOUSNIER, Rolland. Les
XVI e et XVII e siècles les proenès de la civilizacion européenne et le délin
de l’orient (1492-1715). Paris: Presses Universitaires e France, 1954. P. 107-108.
MUSGRAVE, Richard A. Teoria das finanças públicas:
Um estudo da Economia Governamental, São Paulo, Atlas, Brasília, INL,1973.
NABUCO, Joaquim. Minha Formação. 1957. Coleção documentos brasileiros. n.90.
____________________. O abolicionismo. 1988. Clássicos do pensamento político n. 26.
NORMANO, J. F. Evolução Econômica do Brasil. Companhia Editora Nacional. São Paulo,
1939. Série 5, Brasiliana. Vol. 152, Biblioteca Pedagógica Brasileira.
ODALIA, Nilo. As formas do mesmo: ensaios
sobre o pensamento historiografico de Vernhagem e Oliveira Vianna. São Paulo: Unesp, 1997.
HOBSBAWN, Éric J. Nação e nacionalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
RODRIGUES, José Duarte. Cambio ou Brasil e o Sr. Paul Leroy-Beaulieu, ligeiro estudo econômico e financeiro 1888-1889. Rio de Janeiro:
Jornal do Comércio 1898.
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Ordem Burguesa e liberalismo político.
São Paulo: Duas cidades, 1978.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos.-São
Paulo: companhia das Letras, 1998.
SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil. (org.) Miriam
Dolhnikoff.-São Paulo: Companhia das letras; Publifolha, 2000.-(grandes nomes
do pensamento brasileiro).
SODRÉ,
Nelson W. Panorama do Segundo Império.
-2a Ed. Rio de Janeiro; Grafhia, 1998. - (memória brasileira;1)
TILLY, Charles. Capital, Coerção, Estados Europeus
990- 1992. São Paulo: Edusp, 1996.
VEIGA, João Pedro da Veiga. Estudo econômico e financeiro sobre o
estado de São Paulo. São Paulo: Diário Oficial, 1896.
VIANNA, Oliveira. O
idealismo na constituição. 2ª.
ed. Aumentada, São Paulo: 1999.
Brasiliana, 1939.
VIANNA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. São Paulo: José Olímpio
Editora, 1949. Ver também Oliveira Vianna. O
idealismo na constituição. Rio de Janeiro: Cia Nacional, 1999.
[1]
BALANDIER,
Georges. O Contorno. Poder e Modernidade. Rio de. Janeiro: Bertrand
Brasil, 1997. Pp.149, 1997
[2]
Idem
[3] VIANNA. Oliveira. O idealismo na constituição. Rio de Janeiro: Cia Nacional, 1999,
p.261
[4] Idem. PP. 93.
[5] ODÁLIA, Nilo. As formas do mesmo: ensaios sobre o pensamento historiografico de
Venhagem e Oliveira Vianna.
[6]
Idem.
[7] VIANNA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. São Paulo: José Olímpio
Editora, 1949. Ver também Oliveira Vianna. O
idealismo na constituição. Rio de Janeiro: Cia Nacional, 1999.
[8] NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1988. Pp.101
[9]
Idem.
[10]
Ibidem, pp. 07
[11] Carvalho, Maria Alice de Rezende. O quinto século: André Rebouças e a
constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, Iuperjucam, 1998, p.
129-130.
[12] Idem.
[13]
SODRÉ, Nelson W. Panorama do Segundo Império. -2a
Ed. Rio de Janeiro; Grafhia, 1998.- (memória brasileira;1)
[14]
Idem.
[15]
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do
Imperador: Dom Pedro II, um monarca dos trópicos.-São Paulo: Companhia das
Letras, 1998. Pp. 38.
[16]
Idem.
[17]
CARVALHO, José Murilo de. A construção da Ordem/Teatro das sombras.
Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira: 2003.
[18]
Ibidem, pp.12.
[19]
Idem.
[20] Idem
[21] ibdem.
[22]
MATOS, Ilmar Rohloff. O tempo Saquarema. Brasília: Hucitec,
1987.
[23] Idem , pp. 14
[24]
Ibidem, pp. 14.
[25] FAORO, Raimundo. Os donos do Poder. São Paulo: Globo, 1991.
[26] Idem.
[27] LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo:
Alfa-Omega, 1978.
[28] COSTA, Emilia Viotti da. Da senzada à colonia. São Paulo: Editora UNESP, 1998.
[29] CARVALHO, Maria Alice de Rezende. O quinto século: André Rebouças e a
constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, Iuperjucam, 1998. pp.87.
[30]
Idem, pp.18.




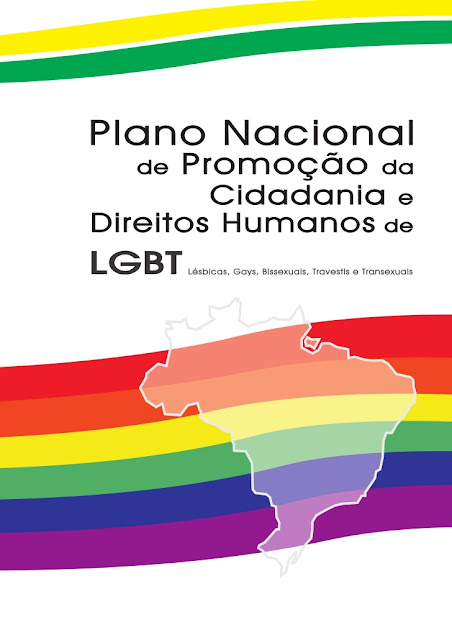
Comentários
Postar um comentário