O Negro e a Educação Brasileira: dimensão histórica
Teorias racistas do século XIX.
A
Ciência do século XIX, da época de Herbert Spencer (1873), é marcada pelo
Darwinismo Social que se baseava na tese de que a teoria darwinista poderia ser
perfeitamente aplicada à sociedade. A luta pela sobrevivência entre animais
corresponderia à lógica capitalista, ou seja, o mais apto sobreviveria. Dessa
forma as sociedades mais capazes se sobressairiam às demais e ocupariam um
papel de liderança. Esta seria uma das fundamentações para a criação do Império
Colonial Britânico, assim a missão da “civilização” era levá-la aos povos
considerados bárbaros o “fardo da civilização branca“. Essa foi a argumentação
básica para a colonização da África e da Ásia.
No
Brasil Conde de Gobineau refletia as concepções européias do período, Segundo
ele, a mistura de raças era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre
maiores de degenerescência física e intelectual. É-lhe atribuída a frase "Não
creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção." A
mistura racial daria origem a mestiços e pardos degenerados e estéreis. Esta
característica já teria selado a sorte do país: a degeneração levaria ao
desaparecimento da população. (Brasiliana, abaixo citada, página 74). A única
saída para os brasileiros seria o incentivo à imigração de "raças"
européias, consideradas superiores. (ARRUDA &PILLET, 1996).
O Negro na educação brasileira
Segundo Matilde Ribeiro (2004) o
Brasil no aspecto legal teve uma ação permissiva diante da discriminação e do
racismo cujos reflexos são sentidos ainda hoje. Diríamos que no tempo histórico
a escravidão se encontra em um processo de média ou longa duração. O decreto
n°13331 de 17 de fevereiro de 1854 estabelecia que não seriam admitidos
escravos nas escolas públicas do país e a previsão para a instrução de adultos
negros dependia da disponibilidade de professores. Ademil Lopes (1995) afirma
que na sala de aula não se conta, ainda hoje. A história social do negro e cita
Luiza da Cunha “Os negros, para viver,
precisam às vezes tornar-se invisíveis”.
Monica Schwartz (2001) afirma que o
preconceito racial no Brasil, hoje, acontece no nível da intimidade e não no
aspecto formal, pois segundo a Constituição Brasileira de 1989, racismo é crime
inafiançável como todos sabemos, mas persiste o apelido, seleção por
entrevistas, currículos que pedem fotos. Estas são maneiras e instrumentos
informais que permitem ação preconceituosa.
No que se refere à educação, Vera
Maria Candau (2003) afirma que o cotidiano escolar é um espaço de diferentes
relações sociais que refletem a diversidade cultural da sociedade brasileira.
Diferentes maneiras de ver o mundo, estilos, crenças, costumes, cores, etnias
estão presentes no cotidiano escolar, pois a escola é um micro universo social,
assim as formas de se relacionar com o outro demonstram praticas sociais e
mecanismos sutis de difusão do preconceito e estereótipos. Pesquisas apontam
que o ambiente escolar pode tornar-se local de reprodução do preconceito, então
é preciso refletir sobre os mecanismos
que podem favorecer a naturalização dos preconceitos.
Sobre
a construção do preconceito racial na sociedade brasileira, é importante pensar
como uma sociedade escravocrata se construiu na diferença entre raça e classe e
considerou a escravidão uma prática normal.
Para a pesquisadora, o currículo escolar pode contribuir decisivamente para
introduzir no imaginário do aluno estereótipos e preconceitos. Alerta que a
educação pode ser unilateral e incompleta se não levar em conta os pressupostos
multiculturais. A escola deve estar preparada para trabalhar com as diferenças,
assim destaca artigo da Folha de S. Paulo de 15/02/2002 no qual Silva afirma:
A questão racial não é
exclusiva dos negros. Ela é da população brasileira. Não adianta apoiar e
fortalecer a identidade das crianças negras, se a branca não repensar suas
posições. Ninguém diz para o filho que deve discriminar o negro, mas a forma
como se trata o empregado, as piadas, os ditos e outros gestos influem na
educação. (CANDAU pp.29,30).
É
necessário estabelecer estratégias para a desagregação de processos
legitimadores de relações hierárquicas que se dão pela cor da pele. A
dificuldade para isto reside na existência de um senso comum que muitas vezes
não reconhece o racismo. Ninguém se
considera agente ativo de atitudes e comportamentos discriminatórios e racistas.
(CANDAU PP.29,30).
Problematizado
ainda mais a questão, Jerry D’avila (2006) em Diploma de Brancura menciona que existe uma flagrante desigualdade
racial na educação brasileira mesmo quando classe social é eliminada como
fator.
Joaquim Nabuco:
abolicionismo e prosperidade
Joaquim
Nabuco fora parlamentar no Brasil Império, liberal, abolicionista ferrenho e
filho do ex-senador Nabuco de Araújo. Poderia ser considerado o “inglês”, pois
idealizou uma via de desenvolvimento para o Brasil nos moldes do sistema
político inglês. A via inglesa fora idealizada no período em que viveu na
Inglaterra em missão diplomática. A este período se deve a formação de suas
concepções políticas liberais e abolicionistas. Para ele, a monarquia
possibilitava a unidade nacional e encaminharia o Brasil rumo à sociedade
liberal. A escravidão e o apego da sociedade brasileira à ociosidade seriam os
traços de nosso subdesenvolvimento deveriam ser banidos do país. O Brasil da
perniciosa preguiça que não tem mãos calejadas do trabalho.
Em O abolicionista sua principal obra ele
explana essas idéias:
A
escravidão impossibilita o progresso material do país, corrompe-lhe o caráter,
desmoraliza-lhe os elementos constitutivos, tira-lhes a energia e a resolução
(...) impede a imigração, desdenha o trabalho manual, retarda o aparecimento
das indústrias, promove a bancarrota, desvia os capitais do seu curso natural.
(NABUCO, 1988, pp. 101)
Afirmava,
com uma amargura, que a escravidão e o processo de colonização da América foi
um duro preço a pagar, pois resultou em desenvolvimento inorgânico artificial e
extenuante do Brasil.
A
história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria
que não se pode sondar, e, infelizmente essa é a História do crescimento no
Brasil. (NABUCO, 1988, pp. 101).
Sonhara com uma sociedade liberal brasileira que se
desenvolvesse sob a égide do trabalho livre, no qual o Brasil fosse convertido,
definitivamente, em uma sociedade liberal dos trópicos. De fato, o Brasil não
mostrava nenhuma vocação dessa natureza. Uma vez rompidos os laços coloniais,
resistiram às velhas estruturas produtivas que deformavam o caráter nacional.
JÁ EXISTE, FELIZMENTE, em nosso país, uma consciência
nacional em formação, é certo – que vai introduzindo o elemento da dignidade
humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária,
é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte. (NABUCO, 1988, pp.
101).
O negro nos livros de História.
Segundo
Ademil Lopes (1995) as pesquisas sobre a História do negro no Brasil devem
considerar a opressão vivida pelos povos africanos no cativeiro buscando relações
com o presente. Na sala de aula poderíamos, por exemplo, utilizar a frase
cunhada pelo grupo de rock RAPPA “Todo
camburão tem um pouco de navio negreiro” e fazer um paralelo entre passado
e presente onde o carro de polícia (camburão) se parece com o navio negreiro,
pois o povo negro continua cativo na violência, pobreza e ignorância e
repressão policial, neste sentido o camburão representa, assim como representou
o navio negreiro, o transporte para o cativeiro que poderia ser, hoje, o
presídio.
Para
Lopes (1995) é preciso afirmar que o processo de libertação dos escravos não se
deu por uma mentalidade humanística da elite brasileira, mas da emergência da
reestruturação produtiva cujo fim do regime servil de trabalho era
pré-condição. Os historiadores de São Carlos nada mencionam sobre o passado
escravista da cidade, embora tenha sido um dos principais centros de produção
cafeeira no final do século XIX para o XX. Nesse período os negros eram o
centro do sistema produtivo do município e foram utilizados em larga escala nas
fazendas cafeeiras até a abolição da escravatura, em 1888.
No
caso de São Carlos destaca-se a elaboração do código de posturas que visava
regulamentar a compra e venda de escravos, seu emprego no conserto das estradas
públicas, sobre o toque de recolher e sobre o escravo fugido imputando penas a
quem os escondessem, etc. Diante disso é preciso afirmar que omitir é uma forma
eficiente de subjugação e controle. Os historiadores de São Carlos afirmam que
antes da abolição o trabalho assalariado já estava implantado na cidade e a
transição do trabalho escravo para o livre consolidado. (LOPES, 1995)
Segundo
Gislene Santos (2006, pp.120) as revoltas dos escravos seja individuais tais
como os assassinatos dos senhores por envenenamento ou coletivas como as
rebeliões e afrontamentos à polícia deram-se em um contexto no qual uma
revolução feita pelos escravos resultaria na perda do controle das elites sobre
a estrutura social. A abolição da escravatura passou a funcionar como
arrefecedor desses conflitos, assim a elite garantiu sua manutenção no controle
da sociedade, apregoando a passividade do escravo e a impossibilidade de sua
revolta. Este caso permite perceber como
o social é apagado pelo político e as lutas sociais descaracterizadas.
O movimento
abolicionista funcionou como um grande estandarte dos cidadãos brancos que
pretendiam, de maneira racional e planejada, adequar o negro a um lugar que não
gerasse incomodo à ordem emergente. (SANTOS, 2006, PP. 120).
Alberto
da Costa e Silva lembra que há bem pouco tempo muitos não ousariam discordar da
afirmação de Sir Hugh Trevor - Hoper
de que não existia uma História da África subsaariana e que a História, ali, só
passou a existir com a chegada do Europeu. Porém, não sabia que, antes disto, a
África tinha passado por evoluções, mudanças sociais, invenções e movimentos. O
estudo da História da África, de uma perspectiva brasileira, nos ajudará a
responder várias perguntas, exemplo, como se crioulizaram as duas margens do Atlântico, como estabeleceram
certos padrões culturais nas cidades e vilarejos costeiros ligados pelo
tráfico. Na habitação, cozinha, vestimentas. Nas festas e em quase todos os
modos de vida.
É necessário e
urgente que se estude, no Brasil, a África – pregava, incansável, na metade do
século XX, mestre Agostinho da Silva. Foi sob sei acicate que se criou o Centro
de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, a cuja sombra se moveu uma
geração de interessados na África e em sua História, alguns dos quais
atravessaram o Oceano e foram estudar e lecionar em Dacar, Ibadan, Ifé,
Kinshasa. Cito alguns nomes: Yeda Pessoa de Castro, Júlio Santana Braga,
Guilherme Castro, Vivaldo Costa Lima e Paulo Fernando de Moraes Faria. (COSTA E
SILVA, 2003, PP.238).
Rebouças e a construção da modernidade.
André Pinto Rebouças nasceu na
cidade de Cachoeira, na Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838, filho de Antônio
Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças, o pai, mulato, advogado autodidata,
chegou à Câmara dos Deputados como representante da Bahia, foi também
conselheiro do Império, a mãe, filha única do comerciante André Pinto da
Silveira do qual André Rebouças herdou o nome. Tiveram oito filhos, sendo André
o primogênito. André foi muito ligado a Antônio, seu irmão e grande companheiro
ao longo da vida. Engenheiro formado estudou na Escola Militar, (posteriormente
chamada Central), na Politécnica, no Largo de São Francisco em março de 1854 e
na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. André Rebouças bacharelou-se em
Ciências Físicas e Matemáticas em 07 de abril de 1859 e obteve o grau de
engenheiro militar em dezembro de 1860.
Ele e o irmão foram comissionados do
Estado brasileiro para trabalhos de vistoria e aperfeiçoamento de alguns portos
e fortificações litorâneas, tidos como estratégicos à defesa da soberania
brasileira. Em 1965 André foi convocado para a Guerra do Paraguai, na condição
de engenheiro militar (entre maio de 1865 e julho de 1886), com a saúde
debilitada retornou ao Rio de Janeiro.
André participou da “construção do
Porto da Cidade do Rio de Janeiro”, e de outros portos do País, esteve à frente
de projetos de obras ferroviárias e de abastecimento de água. Foi “construtor
das primeiras docas no Rio de Janeiro, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco e
na Bahia”. De fato ganhou notabilidade como engenheiro ao elaborar e executar o
plano de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, durante a seca de
1870. Na década de 1880, André se engaja
na campanha abolicionista e participa da fundação de algumas sociedades, como a
Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Sociedade Abolicionista e a
Sociedade Central de Imigração.
Vislumbrava também o nacionalismo
coroado, embora suas convicções o direcionassem para o modelo social
norte-americano, Rebouças, o “Yankee”.
A Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 fez com que André Rebouças
partisse para o exílio, na Europa, junto com a família imperial. Para ele a
República representava a ascensão do militarismo, fim da unidade política e
predominância do agrarismo, o retorno à velha ordem.
Maria
Alice Rezende de Carvalho (1998) escreve
que Rebouças entendia sua profissão, engenheiro, não como uma oportunidade de
acesso à burocracia estatal empreguista. Ele enxergava a engenharia civil como
instrumento para o progresso do Brasil. Suas obras comportavam um tipo de
atividade moderna que não era aceita no Império. A engenharia para Rebouças era
instrumento de modernização do país. Seus projetos tinham uma concepção nova e
arrojada, sempre a serviço do progresso.
...
De modo que, em Rebouças a passagem dos nos 70 para os 80 pode ser entendida
como uma transição do “yankismo”, isto é, da crença da utilidade social do
interesse individual para a defesa de uma via de modernização (cuja referência
aos casos alemão e italiano seria a ilustração mais eloqüente). Nesse sentido,
pode-se dizer que a “demarche” de Rebouças na década de 1880 constitui-se em
acomodar a preservação da via norte-americana de modernização a abdicação da
forma racional de realizá-lo no Brasil, a revolução democrática e agrária
popular, resolvendo-a nos termos de uma “americanização” adaptada implicou, por
suposta, a consideração de história nacional. (CARVALHO, 1998, pp.129-130).
Para
Rebouças a hegemonia norte-americana considerava o interesse dos excluídos, dos
povos, das classes e pautava-se pela democratização social de modo a que todos
tivessem acesso à autonomia e riqueza. Maria Alice destaca os antagonismos
existentes entre a via de Rebouças e Joaquim Nabuco quanto ao desenvolvimento
do Brasil. Para ela, a filosofia de Nabuco era mais esteticamente e eticamente
inglesa, precisamente a Inglaterra oitocentista e vitoriana. Essa via guardava
muitos aspectos do velho sistema de forças europeu, a qual tinha suas bases
assentadas no sistema colonial e na exploração do trabalho.
A democracia
racial em questão.
A
designação democracia racial tem sua origem a partir do livro Casa Grande &
Senzala (1933) no qual Gilberto Freyre afirma que havia certa democracia na
relação entre senhores e escravos. Na pratica o que a História do Brasil
demonstra é o controle social relativamente eficaz proporcionado pelo mito da
democracia racial (SANTOS, 1994, P.45). A democracia racial é uma ideologia
eficiente na qual os três grupos étnicos que compõem originalmente o povo
brasileiro vivem em harmonia social ou tolerância
social. Entendendo que tolerar não significa aceitar ou reconhecer como iguais
os diferentes grupos étnicos. Sobretudo é preciso afirmar que em 1933, ano da
publicação do livro Casa Grande & Senzala, predominavam no Brasil, as teses
científicas de superioridade racial do branco e inferioridade do negro.
O
livro Casa Grande & Senzala, embora carregue preconceitos, é necessário
afirmar, segue na corrente contrária à tese do branqueamento, pois sua obra é
talvez a primeira a assumir e ressaltar a fundamental importância do negro para
o ser e o sentir-se brasileiro. Embora, sua a origem patriarcal de Gilberto
Freyre fale mais alto quando afirma que existiu certa afetividade na relação entre senhores e escravos ou até mesmo
quando tece sua visão sobre a mulher negra propensa
as relações sexuais por serem as negras mais fogosas que as brancas.
Segundo
Kabengele Munanga (2001) quanto à escravidão no Brasil, destaca-se uma produção
discursiva cheia de estereótipos e preconceitos aliada de uma situação de
violento equilíbrio onde prevalece a relação dominante/dominado e um discurso
monopolista da “razão”, de “virtude” e “verdade”. A dominação colonial na
África utilizou como justificativa a
missão colonizadora do ocidente, ou seja, a missão de civilizar os
africanos “selvagens” e convertê-los aos costumes do europeu. Pensava no negro
como um branco degenerado, que poderia ser doente ou desvirtuado. Na simbologia
das cores da civilização européia a cor preta representa uma mancha moral e
física, a morte e a corrupção, enquanto a branca remete à vida e à pureza.
Missionários decepcionados com o fracasso da conversão afirmavam que o negro
refletia a natureza pecaminosa de suas almas resistentes à palavra de deus,
assim a escravidão era a única possibilidade de “salvação” desses povos.
A desvalorização e a
alienação do negro estende-se a tudo que toca a ele: o continente, os países,
as instituições, o corpo, a mente, a língua, a música, a arte, etc. Seu continente
é quente demais, de clima viciado, malcheiroso, de geografia tão desesperada
que o condena à pobreza e à eterna dependência. O ser negro é uma degeneração
devido à temperatura excessivamente quente. (MUNANGA, 2001, PP. 21).
A
herança social de um povo é legada às futuras gerações por meio da educação. A
escola tradicional, preponderante no Brasil, restou como a única possibilidade
o aprendizado do colonizador, assim a memória que lhe inculcam não é a de seu
povo. A história de seus ancestrais africanos é substituída pela História
européia dos francos, germanos, anglos e bretões, povos de pele e olhos claros.
Aprende a língua do colonizador para fazer parte minimamente da vida social,
pois apenas com a sua torna-se um estranho dentro de sua própria terra.
A língua do
colonizado não possui dignidade nenhuma no país e nos concertos dos povos. Se o
negro quiser obter uma colocação, conquistar um lugar, existir na cidade e no
mundo, deve, primeiramente, dominar a estranha, de seus senhores. (MUNANGA,
2001, PP. 24).
Hoje, a História da África na Grade
Curricular do Ensino Fundamental e Médio se refere muito mais a uma
rearticulação do modelo produtivo no século XXI baseados em modelos de
diversidade cultural, mundialização, cujo objetivo é a ampliação do mercado
consumidor, predominância do setor de serviços, do que um profundo mergulho
dentro das raízes do Brasil para a formulação de um projeto nacional que
englobe todo o conjunto da sociedade.
Uma vez que na conformação do Estado Nacional
brasileiro o negro foi subjugado, e que agora na conformação de uma sociedade
democrática ocupem uma posição igualitária.
Considerações finais
É preciso voltar ao ponto de origem,
reconstituir a trajetória do negro brasileiro e não podemos ensinar somente a
História da Europa, mas também a História da África. Os livros didáticos de
História apenas descrevem a condição do negro nesse lado do Atlântico. Ao
revermos os conceitos, um novo paradigma se estabelece. O aluno através do
ensino de História da África saberá que tem raízes em um continente chamado
África, um conjunto de resignificações pessoais o levará a uma reconstrução de
sua identidade e valorização da diversidade cultural.
Esse
é o papel da escola que se baseia em pressupostos democráticos, entendemos que
os reflexos da escravidão não foram de todos dissipados. A introdução da
disciplina História da África na grade curricular é peça importante nesse
processo. A sociedade que queremos é uma sociedade plural onde convivem lado a
lado diferentes religiões, orientações sexuais, origens e etnias. Nesse esforço
a escola é um espaço privilegiado para discussões, estudos, reflexões e difusão
dos princípios da diversidade por meio de atividades extracurriculares, acesso
a exposições, reprodução de filmes sobre o tema. Tudo isso pode fazer com que o
jovem elimine seu preconceito e adquira o respeito à diversidade.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CARVALHO, José Murilo de. A formação das Almas: o imaginário da República no Brasil.-São
Paulo: editora Companhia das Letras, 1990.
_________________________. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi.-São
Paulo: editora Companhia das Letras, 1997.
CARVALHO, Maria Alice de Rezende. O quinto século: André Rebouças e a
constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, Iuperjucam, 1998.
COSTA, Emilia Viotti da. Da senzada à colonia. São
Paulo: Editora UNESP, 1998.
COSTA, João Severino da. Salgado, Graça. Memórias sobre a escravidão. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1988.
FAORO, Raimundo. Os donos do Poder. São Paulo: Globo, 1991.
FREYRE, Gilberto. Casa
grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 32 ed, 1997.
_________________. Sobrados e Mucambos: introdução
da história da sociedade patriarcal no Brasil, decadência do patriarcado
rural e desenvolvimento do urbano. ? 1961.
NABUCO, Joaquim. Minha Formação. 1957. Coleção documentos brasileiros. n.90.
____________________. O abolicionismo. 1988. Clássicos do pensamento político n. 26.
APPLE, Michael W. Políticas de direita e branquidade: a
presença ausente da raça nas reformas educacionais. Revista Brasileira de
Educação, Belo Horizonte, n. 16, p. 61-67, jan./abr. 2001.
APPLE, Michael W; BEANE,
James A. Escolas democráticas. São Paulo: Cortez, 1997.
BRASIL. MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO. Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas. Brasília:
Ministério da Educação / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, 2005.
______________________________.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana,
Brasília/DF/junho/2005.
CADERNOS DE PESQUISA. São Paulo, n. 63 – Raça negra e educação. Número
especial organizado por Fúlvia Rosemberg e Regina Pahim Pinto, 1987.
CANDAU,
Vera Lúcia. Somos tod@s iguais? Escola,
discriminação e educação em direitos humanos.-Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania
no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
D’AVILA,
Jérry. Diploma de brancura: política
social e racial no Brasil – 1917-1945.-São Paulo; Editora UNESP, 2006.
FÁVERO, Osmar (Org.). A
educação nas constituintes brasileiras: 1823-1988. Campinas, SP: Autores
Associados, 1996.
FONSECA,
Marcus Vinicius. A educação dos negros:
uma nova face do processo de escravidão no Brasil.-Bragança Paulista:
EDUSF,2002.(Coleção Estudos CEDAPH, série Historiografia).
FOUCAULT, Michel. Vigiar
e Punir. Petrópolis, Editora Vozes, 1999.
FREYRE, Gilberto. Casa
grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 32 ed, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1983.
GONÇALVES, Petronilha S. O Jogo das Diferenças: O Multiculturalismo
e seus Contextos. Belo Horizonte, Autêntica, 1998.
GONZALEZ, Lélia e HASENBALG,
Carlos A. Lugar de Negro. Rio de
Janeiro, Marco Zero, 1982.
HENRIQUES, Ricardo. Raça e gênero nos sistemas de ensino:
os limites das políticas universalistas na educação. Brasília: UNESCO, 2002.
FERNANDES, Florestan, A integração do negro na sociedade de
classes, São Paulo, Ática, 1978.
LIMA. Maria Nazareth Mota
de, (org.). Escola Plural - A Diversidade Está na Sala de Aula,
118 págs., Série Fazer Valer os Direitos, vol. 3, Ed. Cortez/Ceafro/Unicef.
LOPES, Ademil. Escola, socialização e cidadania: um estudo da criança negra numa
escola pública de São Carlos/SP- São Carlos: EDUFSCar, 1995.
MACHADO, Nádie Christina
Ferreira. Letramento, gênero, raça e ocupação no Brasil. Porto
Alegre; UFRGS, 2004. 124 p. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação
em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2004. [manuscrito]. UFRGS/EDU T
MUNANGA,
Kabengele. NEGRITUDE. Usos e Sentidos.
- São Paulo. Editora ÁTICA, 1988. (Série Princípios).
NOGUEIRA,
ORACY. Tanto Preto Quanto Branco.
Estudo das relações raciais.-São Paulo, T.A.Queiroz, 1985.(biblioteca básica de
Ciências Sociais; ser.1: Estudos Brasileiros; v.9).
QUEIROZ, Delcele
Mascarenhas. Universidade e desigualdade: brancos e negros no ensino
superior.Brasília: Líber Livro, 2004.
RIBEIRO,
Matilde. Apresentação do SEPPIR. In: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, Brasília,
DF, Outubro, 2004.
ROMÃO, Jeruse (org.) Série Pensamento Negro em Educação.
Florianópolis, Núcleo de Estudos Negros, vols. I,II,III,IV,V,VI, 1997/1999.
SANTOS,
Gislene A. dos. A invenção do ser negro:
um percurso de idéias que naturalizam a inferioridade dos negros.-São Paulo:
EDUC/FAPESP, Rio de Janeiro; PALLAS, 2006.
SCHWARCZ, Lília Moritz. Racismo
no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001.
SILVA,
Alberto da Costa e. Um rio chamado
Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. -Rio de Janeiro: Nova
Fronteira: Ed. UFRJ, 2003.
SILVA, Cidinha (org.). Ações
afirmativas em educação. São Paulo: Selo Negro, 2003.
SILVA, Petronilha Beatriz. A Identidade da Criança Negra e a Educação
Escolar. Porto Alegre, Faced/UFRGS, 1987.
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.)
Alienígenas na Sala de Aula. Uma
Introdução aos Estudos Culturais em Educação. Petrópolis, Vozes, 1995.
SOUZA,
Irene Sales de. Os educadores e as
relações inter étnicas: Pais e mestres- Franca: UNESP-FHDSS, 2001.
(Dissertações e Teses).
SOUZA, Neusa. Tornar-se negro. Rio de Janeiro, Graal,
1983.




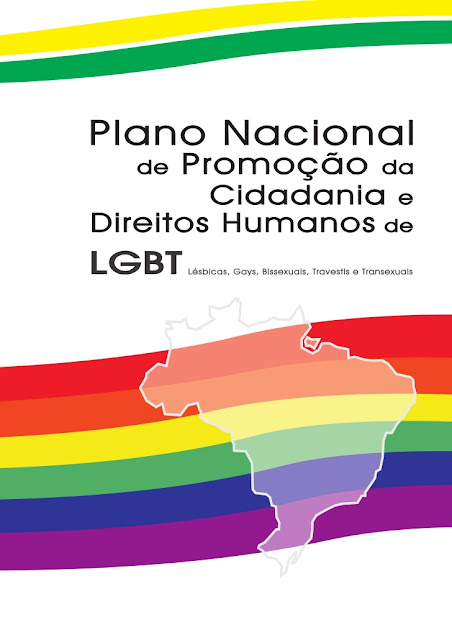
Comentários
Postar um comentário