Breve história da formação das fronteiras brasileiras na Amazônia
Fragmento da dissertação de mestrado de Samuel de Jesus, intitulada: Os militares e a Amazônia (2003)
A Amazônia Legal ocupa
5.016.136,3 km2, que correspondente a 59%
do território brasileiro. Sua população é aproximadamente 24 milhões de
pessoas, segundo o Censo 2010, distribuídas em 775 municípios, nos estados do
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins (98% da
área do estado), Maranhão (79%) e Goiás (0,8%). Além
de conter 20% do bioma cerrado, a região abriga todo o bioma Amazônia, o mais
extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a 1/3 das florestas tropicais
úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético
e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1887&id_pagina=1 //Extraído em 01/01/2012
O espanhol Vicente Pinzón que,
depois de atingir as costas de Pernambuco, em janeiro de 1500, partiu rumo ao
norte e, em fevereiro do mesmo ano, deparou-se com a foz de um rio imenso ao
qual chamou “Grande Rio de Mar Dulce”. A descoberta da foz despertou a
curiosidade de aventureiros dentre eles estavam os espanhóis, portugueses e
genoveses. As lendas foram parte da motivação de exploradores, lendas como a do
“país da canela” e também outras lendas como as das amazonas que eram índias guerreiras
que possuíam arcos e flechas, tinham cabelos compridos e andavam sempre nuas;
elas, na verdade, faziam parte das histórias do Frei Gonçalo de Carvajal que
fascinavam a Europa e movimentavam as expedições exploradoras.
As primeiras viagens dos espanhóis pela Amazônia pertencem, de fato, ao
ciclo lendário dos descobrimentos geográficos universais, quando o sonho e a
fantasia interferiram com acentuada freqüência que muitas investidas e
conquistas até hoje envoltas aos mistérios das historias romanescas (TOCANTINS,
1961, pp. 40)
Após
a expedição de Orellana, ao longo do século XVI, seguiram-se outras como as de
Pedro Ursua e Lopo de Aguirre (1561), expedições religiosas promovidas pelo
jesuíta Samuel Fritz, no Solimões (1689 a 1704). A lenda do “país das
Amazonas”, que deu nome à região, é produto da mitologia grega, (das guerreiras
da ilha de Lesbos), transplantada pelos espanhóis para o ambiente do novo mundo
de forma ao mesmo tempo a preservar a região contra invasores e incentivar suas
conquistas pelos ibéricos.
As novas paisagens instigavam a imaginação dos aventureiros a criar o país
da Canela, o Eldorado, a Manoa, cidade dos telhados de ouro, as Amazonas
guerreiras, mitos peculiares aos grandes deslocamentos históricos ao domínio
dos desertos. As historias exóticas se reproduziam ao sabor da fantasia de cada
um, minando o espírito das gerações. As pesquisas históricas esclarecem que a
palavra “ELDORADO” provém da contração “El Hombre Dorado” mito que mergulha
raízes em uma prática de exorcismo pagão da aldeia dos índios da aldeia de
Gravita, nas montanhas de Nova Granada. (TOCANTINS, 1961, pp. 51).
A Construção do Forte de Presépio (1616).
O
tratado de Tordesilhas (1494) assegurava a Portugal somente a embocadura do rio
Amazonas – inicialmente, a região não despertou interesse por parte de
Portugal, (o comércio com as índias tinha prioridade), nem dos espanhóis (além
de encontrar dificuldades em conter as invasões preferiam ocupar suas colônias
nas Antilhas e Costa Ocidental do Pacífico). Instalaram-se, na região, ingleses,
franceses e holandeses. Essa situação de competição pela posse da nova terra só
ganhou um tratamento diferente com a união das coroas ibéricas (1580-1640). O
símbolo da conquista da Amazônia pelos portugueses é o Forte de Presépio,
construído em 1616 por Francisco Castelo Branco; simboliza tal edificação, o
domínio da foz do rio Amazonas, representando, assim, a implantação do Império
luso ao longo do curso do grande rio e seus afluentes.
A
criação da capitania de São José do Rio Negro, que deu origem ao atual estado
do Amazonas, representa ponto importante de consolidação do poder português na
foz do Amazonas, representa também, sua expansão rio adentro. Os Fortes
construídos, em seguida ao de Presépio, fazem parte do processo do
estabelecimento dos limites brasileiros na Amazônia. Tais edificações foram
construídas em vias naturais de acesso, em locais estratégicos, os mais
distantes possíveis, com o objetivo de barrar os futuros conquistadores. A
conquista formal da região amazônica se iniciou com a construção do Forte de Presépio
(atual Belém), em 1616, pelos portugueses, seguido pela construção dos
seguintes Fortes:
- Forte de Garupa, em 1663;
- S. J. do Rio Negro, em
1669;
- Forte de Macapá, em 1688;
- Forte de Santarém, em
1697;
- Forte de Óbidos, em 1697;
- Forte de São Joaquim da
Barra do Rio Negro, em 1699;
- Construção da divisão
naval do norte em Belém, em 1728;
- Forte de São José das
Marabitanas, em 1761;
- Forte de São Gabriel da
Cachoeira, em 1761;
- Forte de São Francisco
Xavier de Itabatinga, em 1775;
- Forte de São Joaquim, em
1775;
- Forte de Príncipe da
Beira, em 1776.*
Os
Fortes foram margeando os grandes rios da região do Amazonas, possibilitando
que os europeus seguissem para além das
fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas e estabelecesse a
configuração geográfica da Amazônia brasileira tal como conhecemos hoje. A ação
do Governo de Lisboa de expulsar os aventureiros ingleses, franceses,
holandeses, e expandir o marco do domínio português, até as proximidades das
nascentes andinas do grande rio e seus afluentes da margem norte, foi
possibilitada pelo Tratado de Madri (1750), firmado sobre o princípio do uti
possidetis, ou a posse por uso, como critério demarcatório.
O
Marquês de Pombal teve um papel decisivo na incorporação do espaço amazônico ao
Brasil, por meio das suas cartas (1755), foram fixados os objetivos
geopolíticos da expedição comandada por Mendonça Furtado (1754). A expedição contava,
também, com D. José de Iturriaga, delegado plenipotenciário de Castela, cujo
objetivo era demarcar, conjuntamente com o governo espanhol, as fronteiras
estabelecidas pelo Tratado de Madri (1750). O General Meira Mattos cita
passagens das cartas a Mendonça Furtado (1755) nas quais o Marques de Pombal expõe
seus objetivos:
Quero que o novo governo do Rio Negro, o qual agora bem vereis, deve ser
promovido com o maior cuidado pela indispensável necessidade de se povoar essa
fronteira ocidental e assegurarmos com ela a navegação do Rio Madeira para Mato
Grosso, e passagem daquelas minas para Cuiabá, e ainda de mais escuso lembrar
que muito se faz necessário separar os padres jesuítas (que já claramente estão
fazendo essa guerra) da fronteira da Espanha, valendo-nos para isto de todos os
possíveis pretextos, visto que com esta potência eclesiástica nos achamos em
tão dura e custosa guerra, completar o aparelhamento defensivo do império na
orla fronteiriça,
iniciado em Mato Grosso e prosseguindo com o governo do São Pedro do
Rio Grande do Sul. (MEIRA MATTOS, 1980, pp. 28)
A
análise que o general Meira Mattos faz das cartas pombalinas permite avaliar a
estratégia geopolítica de Portugal para a Amazônia, em meados do século XVIII.
Os lusos planejavam:
- Ocupar, colocando nomes
portugueses nos espaços amazônicos ao norte (capitania de Cabo Norte); noroeste
e oeste (rio Negro, Branco e Solimões); sudoeste (rios Purus e Madeira);
- Instalar no rio Madeira
um entreposto que assegurasse a mútua comunicação da região amazônica com
Cuiabá, ponto extremo do sistema de comunicação com o sudoeste e o sul, São
Paulo, Minas Gerais e São Pedro do Rio Grande.
- A articulação de todo espaço
brasileiro, intercomunicando-lhe as três grandes bacias: amazônica, platina e
francisquense.
Conflitos e fronteiras
A
questão do Amapá soma-se aos esforços de incorporação do território amazônico
ao Brasil; a querela tem início com a criação pela França, da Companhia do Cabo
Norte, visando explorar as regiões do rio Amazonas e Orenoco, e fundada a
cidade de Caiena (1633). Em represália, o rei da Espanha e Portugal cria a
Capitania do Cabo Norte por meio da doação desta região á Bento Manoel Parente
(1637) que construiu aí o Forte de Desterro (Almeirim), a fim de guardar os
seus domínios. Os embates entre brasileiros e franceses, pela incorporação da
região contestada se estenderam pelo século XVIII e XIX. Em 1836, o governador
da Guiana Francesa, Laurens de Choisy comunicou ao presidente da Província do
Pará, sua resolução em ocupar a região do Amapá até o rio Araguari. O governo
brasileiro aliou a diplomacia e chegou a um acordo com o governo francês: uma
comissão mista nomeada marcaria os limites. Assim, o território contestado
ficaria neutralizado, governado por um estatuto especial, uma espécie de
governo binacional, que asseguraria a convivência pacífica dos habitantes dessas
nacionalidades.
A
partir do ano de 1890, a alfândega de Caiena começou a ter importância da
produção aurífera na região. Em 1884, essa alfândega chegou a registrar uma
exportação de 4.835 quilos de ouro, da qual o vale do Calçoene, em território
reconhecidamente brasileiro - concorreu com 2500 quilos. Quase todo o distrito
aurífero encontrava-se na zona contestada, que abrangia a área de 260.000 Km²,
o direito territorial brasileiro a esta chamada zona contestada estava
claramente reconhecido em pelo menos três importantes tratados firmados pelo
governo de Paris: Utrecht (1713), Viena (1815), Paris (1817).
As
disputas pela fixação das fronteiras do Oiapoque podem ser incluídas no quadro
de um longo conflito, dividido em duas fases: a primeira começa com a
determinação do rei da França, em 1610, para que Daniel de La Touche, “ocupasse
as terras da América, a boca do rio Amazonas ate a ilha de Trinidad,” fato ao
qual seguiram várias tentativas francesas de instalação no rio Amazonas,
obrigando os portugueses a construir o Forte de Presépio e Gurupi; a segunda
fase tem início no século XVIII, após a instalação dos franceses em Caiena. A
partir dessa fase, a pretensão francesa era dominar a margem norte do rio Amazonas.
Os conflitos na região somente terminaram após 1900, com a interferência do
Barão do Rio Branco ao conseguir laudo favorável à tese brasileira.
Terminado
o período colonial, o espaço político amazônico compreendia o Estado do
Maranhão e Grão-Pará e 11 capitanias, entre elas; Maranhão, Pará, Cuma, Cabo
Norte (Amapá), Caeté, Goiás, Mato Grosso, São José do rio Javari e São José do
Rio Negro. A “Questão do Amapá” aproxima-se da “Questão do Acre”, pelo fato da
primeira ser provocada pelo surto do ouro e, a segunda, pelo interesse
internacional em relação à borracha, produto altamente valorizado. Essas
questões foram solucionadas pelo Barão do Rio Branco. A seca de 1877 fez com
que muitos nordestinos migrassem para a região da Amazônia, atraídos pela perspectiva
de riqueza oferecida pela extração da borracha, assim ocuparam uma região (hoje
estado do Acre) que naquela época, era área de fronteira com a Bolívia, ainda
não demarcada e desocupada; estabeleceram-se, ali, aproximadamente trezentas
mil pessoas. A Amazônia - graças à valorização da borracha, produto crítico
para a nova indústria que se expandia nos países mais desenvolvidos - chegou a
um elevado nível de desenvolvimento.
O látex da região amazônica era o de melhor
qualidade; a Amazônia, no final do século XIX, detinha produção da ordem de 65%,
cujos principais mercados como Nova Iorque, Liverpool, Londres, Antuérpia,
Hamburgo e Lisboa. Em 1900, a receita geral da borracha era de 7,22 milhões de
libras esterlinas, representando 12,4% dos 33 milhões da receita geral de
exportação do Brasil, superada apenas pelo café, com 57%. A Questão acreana foi
desencadeada pela valorização das áreas fronteiriças não demarcadas e pela
produção da borracha. Pelo Tratado de Ayacucho (1867) deveria ser traçada uma linha
do rio Beni até a foz do rio Javari; mas, como ninguém sabia ao certo onde
estavam as nascentes do rio Javari, a região continuava em litígio. Em 1894,
foi firmado o protocolo Carlo de Carvalho Diez Medina que rezava o retorno dos
trabalhos demarcatórios. Com a prosperidade ocasionada pela produção da
borracha, que já em 1894 alcançava a cifra de cinco milhões de libras
esterlinas, a região começou a despertar o interesse dos bolivianos; assim,
começaram as gestões diplomáticas com vistas à incorporação do Acre pela
Bolívia. O general Meira Mattos, escreve sobre o conflito entre os brasileiros
e bolivianos, ocasionado, pelo fato dos bolivianos reivindicarem a área já habitada
pelos brasileiros.
A população brasileira, que quase instalou nesses confins, até então completamente
desabitados, criou uma importante fonte de riqueza, sem ser molestada por
ninguém durante 20 anos; mas de repente, foi intimidada a aceitar um estranho
poder político e fiscal, poder que jamais reconheceu como legitimo. Quando essa
população sentiu que não contava com apoio do Governo Federal brasileiro,
revoltou-se, proclamou no Acre um Estado independente e partiu para a luta armada.
(MEIRA
MATTOS, 1980, pp. 28)
Essa
disputa diplomática só teve fim com a assinatura do tratado de Petrópolis
(17-11-1903), pelo qual o Brasil incorpora 181.000 km² ao seu território,
oferecendo em troca algumas compensações como o compromisso da construção de
estradas de ferro (como a ferrovia Madeira-Mamoré), por meio da qual foi
possível o escoamento da borracha boliviana pelo vale do Amazonas
permitindo-lhe o acesso ao Oceano Atlântico com passagem por Mato Grosso e São
Paulo, ligando a Bolívia ao porto de Santos. Segundo o general Meira Mattos, a
Bolívia foi incapaz de assegurar o território contestado e na eminência da
derrota pelos acreanos, acabou cedendo à oferta de compra pelo Brasil:
Na eminência de uma derrota os bolivianos chegaram a um acordo. A
Bolívia mostrou-se incapaz de ocupar a região que reivindicava não encontrou
recursos para superar o fato consumado, da área já estar ocupada pacificamente
e transformada em importante manancial econômico. Em uma última tentativa de
incorporar o território, a Bolívia tomou a decisão de arrendar a região ao
sindicato anglo-americano, o “Bolivian Syndicate” que se encarregaria de tomar
conta, explorar e ocupar-se da sua segurança desta região. O mesmo sistema de “Chartered
Company” do tipo que os europeus contratavam para explorar suas colônias na
África. Aceitar como válido o contrato dos bolivianos, equivaleria a se
conformar com a instalação, no centro da América do Sul, de um poder econômico
internacional em área exclusivamente dependente do Brasil para a sua entrada e
saída. Diante desta situação o chanceler Barão do Rio Branco iniciou a negociação
para a compra do território em litígio (...) essa compra com pequenas compensações
territoriais, destinadas a aliviar os brios bolivianos, seria a única solução
viável, com isto a soberania sobre a região estaria garantida. Como
conseqüência do ponto de vista geopolítico, harmonizam-se a geografia e a
economia de uma região integrada. (MEIRA MATTOS, 1980, pp. 57-58).
1.1
Deslocamento da
Fronteira Amazônica.
Marechal Rondon.
Durante
quarenta anos, o Marechal Cândido Rondon, dedicou-se ao trabalho de construir
linhas telegráficas que tirou o Brasil do isolamento. Chefiou a comissão telegráfica
encarregada de prolongar o terminal de Uberaba até Mato Grosso e Goiás. Em
1907, o presidente Afonso Pena nomeou Rondon para uma missão de estender linhas
telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas; o marechal, então, penetrou na
Amazônia Ocidental e levou seus fios até Santo Antônio do rio Madeira,
explorando e construindo um picadão de 40 metros de largura de 2.635 km. de
extensão. (MEIRA MATTOS, 1980, pp.61, 62), integrando por meio das comunicações
as populações residentes nessa região proporcionando, além da demarcação das
fronteiras brasileiras, conhecimentos de Zoologia, Botânica, recursos naturais
e o desenvolvimento de uma política indigenista. (BORMANN, 1997).
Destacamos,
também, a contribuição dos agentes civis, militares e religiosos para a formação
das fronteiras brasileiras na região amazônica. Arthur Cezar Ferreira Reis
(1966, pp. 46), descrevendo o processo de conquista da Amazônia, atribui sua
realização aos civis e militares, aos agentes religiosos, aos missionários, que
penetraram a região amazônica, fazendo valer as decisões da Coroa ou da Santa
Madre Igreja sobre a região. Os missionários que tomavam contato com os
indígenas e usavam a catequese a não oferecer resistência à conquista operada
pelos civis e militares. Reis é enfático em afirmar que não devemos atribuir
aos exploradores estrangeiros dos séculos XIX e XX o descobrimento da Amazônia,
mas aos sertanistas e missionários que, lentamente e silenciosamente,
ultrapassavam a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas nos séculos XVII
e XVIII e tiveram seu esforço ignorado.
Diz ele:
Registramos o copioso noticiário de ordem geográfica que resultou da penetração,
realizada pelos sertanistas e pelos missionários. Dissemos que tais sertanistas
e religiosos realizavam descobrimentos. Quando não realizavam diretamente eram,
porém, a pena que registrou a empresa nos detalhes e nas particularidades que o
distinguiram. (MEIRA MATTOS, 1980, pp. 46).
No contexto do século XVII dois nomes são
importantes, Bento da Fonseca e Manoel Ferreira. Bento da Fonseca era da
milícia jesuítica; homem inteligente a quem acusou-se de terçar armas, na
Amazônia e em Portugal, contra os faziam restrições ou acusações à Ordem de
Santo Ignácio de Loyola. Manoel Ferreira, igualmente jesuíta, escreveu “Breve
noticia do Rio Tapajós” – rio, cujas cabeceiras, foram descobertas no ano de
1742 por sertanejos ou mineiros de Mato Grosso, sertanejos como Cabo Leonardo
de Oliveira, homem bem conhecido e dos mais experimentados nos Sertões de
Minas. Os dois, Ferreira e Fonseca, eram missionários, catequizaram os índios e
rumaram sertão adentro para localizar tribos, fundaram missões que se
tornariam, mais adiante, pequenas vilas e, posteriormente, cidades. Os
missionários eram divididos em diversas ordens religiosas: jesuítas,
carmelitas, mercedários e religiosos de Santo Antônio. Os jesuítas trabalharam
no rio Urubu, no rio Negro e, depois, no rio Madeira. Conseguiram reunir várias
tribos na foz do rio Matura e no rio Uatumã, organizaram um núcleo que era
formado por algumas casas de índios. Os carmelitas, em 1710, passaram para o
rio Branco; em 1725, foram para o Solimões. Criaram quase todos os povoados do
rio Negro. Nas cercanias de São José do Rio Negro, levantaram a capela de Nossa
Senhora da Conceição. Os jesuítas, mercedários, e carmelitas estiveram nos rios
Urubu, Amazonas, Solimões, Negro e afluentes. Criaram núcleos que deram origem
às cidades de Itacoatiara, Borba, Barcelos, Coari, Tefé e São Paulo de
Olivença. Outros movimentos estabeleceram os limites atuais da Amazônia Legal,
dentre eles podemos mencionar as monções cuiabanas que adentravam as linhas
fluviais até os afluentes do rio Cuiabá para chegar às minas de ouro, assentadas
em seus afluentes.
Monções cuiabanas.
Dentro do processo de deslocamento da
fronteira brasileira na Amazônia encontram-se as monções cuiabanas, tema
discutível no movimento bandeirante, mas segundo Synésio Sampaio Góes (1991), diferentemente das bandeiras,
as monções - fenômeno característico do século XVII – eram, exclusivamente,
fluviais; seguiam roteiros fixos, passando por pontos conhecidos, as monções
tinham um único objetivo chegar às minas de ouro dos rios Cuiabá e Guaporé. Existem
pontos comuns entre as bandeiras e as monções; são, antes de tudo, movimentos
de “expansão territorial”, mas, cada um com uma função diferente - as bandeiras
levaram ao conhecimento da terra enquanto as monções garantiram seu povoamento.
Na verdade, “a história das monções é um pouco o prolongamento da historia das
bandeiras paulistas em sua expansão para o Brasil central”. Por meio das “monções”
foi consolidada a posse das terras entre o planalto de Piratininga e os campos e
florestas do extremo oeste que correspondem hoje aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Rondônia. A
historia das “monções”, que durou quase cem anos, começou com o descobrimento de ouro em
afluentes do rio Cuiabá, a cerca de 800 Km a oeste do meridiano de Tordesilhas,
pela Bandeira de Pascoal Moreira Cabral, em 1718, no rio Caxipó Mirim. Quatro
anos depois, Miguel Sutil descobriu, no local, que mais tarde seria fundada a
cidade de Cuiabá, riquíssimos aluviões de ouro, certamente um dos aluviões mais
fartos em ouro. Das “monções cuiabanas”, partimos para os tratados que
definiram as fronteiras da Amazônia Legal com o Peru, Venezuela e Colômbia,
fechando assim, todos os limites territoriais atuais do Brasil na região
Pan-amazônica. (GÓES, 1991, pp. 85, 86)
Tratado de 1851 com o Peru.
Os
brasileiros ligados às funções de padres missionários, soldados e colonos
leigos, às vezes, droguistas do sertão, ou membros de tropas de resgate, foram
ocupando pontos na margem norte do rio Solimões, inclusive nos trechos
estabelecidos pelo Tratado de Madri e de Santo Ildefonso, A fundação, em 1776
do Forte de São Francisco Xavier de Itabatinga, em frente da boca do rio
Javari, fixou a soberania lusa sobre aquela parte do Amazonas. O tratado de
1851 considerava o uso do princípio do Uti Possidetis para a demarcação
dos limites entre Brasil e Peru, além disso, reconheceria como fronteira a povoação
de Tabatinga e, daí para o norte, em linha reta até encontrar o rio Japurá,
defronte da foz do rio Apapóris; e, de Tabatinga para o sul, o rio Javari,
desde sua confluência com o Amazonas. Ao sul de Tabatinga, o tratado continuava
com o limite natural do Javari, até a sua, então desconhecida, nascente. A
grande novidade estava ao norte de Tabatinga, no estabelecimento da nova
fronteira pela linha geodésica Tabatinga - Apapóris que faria passar à
soberania brasileira o ângulo formado pelos rios Solimões e Japurá.
Tratado de 1852 com a Venezuela.
O estabelecimento dos limites do Brasil
com a Colômbia e com a Venezuela começou a ganhar força quando as duas unidades
integrantes da Grã – Colômbia foram separaradas
ficando indefinidos os limites entre os dois países na Amazônia. O Brasil tentou
negociar tratados de limites, mas não obteve sucesso por não existir idéia
clara das bases possíveis para uma negociação. Entre 1849 e 1853, Paulino José
Soares de Souza, Visconde de Uruguai, conseguiu firmar, por intermédio de
Duarte da Ponte Ribeiro, o acordo de fronteiras com o Peru, ficando
estabelecida a linha de Tabatinga- Apapóris, traçada em uma região disputada
pela Colômbia. Nos dois anos seguintes, conseguiram, também por intermédio do Uti
Possidetis, finalizar acordos com a Venezuela, em 1852 e com a Colômbia, em
1853.
O acordo de 1859 com a Venezuela, chamado;
“Tratado de Limites e Navegação Fluvial”, reconheceu as posses portuguesas no
alto rio Negro. A divisa fixada começa a leste, em um ponto determinado no alto
rio Negro (hoje tri-junção das fronteiras Brasil- Colômbia-Venezuela) e seguia
por curtas e quebradas linhas geodésicas até a serra do Imeri (pico da Neblina);
continuava pela crista desta e das serras Parima e Pacaraima até o Monte Roraima.
O movimento de pessoas além dos limites de Tordesilhas foi decisivo na
integração do território e razão maior do estabelecimento desses tratados.
Quando outros países reivindicavam o território, esses tratados, em sua
esmagadora maioria, lidavam com
questões muito intrincadas, nada fáceis de serem resolvidas, pois
ali viviam famílias inteiras de brasileiros que, em muitos casos deixaram sua
região de origem e migraram no afã de mudar sua sorte, fugindo da seca
nordestina como no caso dos trabalhadores da borracha no Acre, ou procurando o
ouro, como no caso do Amapá.
Esses trabalhadores deitaram suas raízes
no lugar, modificaram sua paisagem e imprimiram ali suas marcas; assim ficava
impossível serem removidos, até mesmo porque não hesitavam pegar em armas para defender
o lugar. A incorporação de parte da região amazônica ao Brasil - desde a
descoberta do rio Amazonas por Orellana e com o advento da união das coroas
ibéricas (1580 a 1640) – possibilitada, estrategicamente, pela construção do
Forte de Presépio (1616) representou o domínio da foz do rio Amazonas. A
construção do Forte de São José do Rio Negro representou a consolidação do
poder português na foz do Amazonas. A assim como respondeu as políticas
pombalinas de incorporação do espaço amazônico ao Brasil por meio da criação de
expedições de demarcação de fronteiras. Essa política visava ampliar as linhas
fronteiriças estabelecidas pelo Tratado de Madri (1750).
Considerações
finais
As questões do Amapá e Acre, os Tratados
do Peru e Venezuela, as missões religiosas, as bandeiras, são marcos definidores
do deslocamento das fronteiras brasileiras na Amazônia e nos permitem compreender
a formação das fronteiras da Amazônia. Esse deslocamento foi resultado de
esforços humanos, sobretudo dos civis que tiveram um papel fundamental.
Certamente não foi resultado somente da construção de fortes e da presença
militar, mas o elemento militar se somou aos homens e mulheres que foram conduzidos
por suas missões religiosas, a luta pela sobrevivência e prosperidade. Para o
resguardo das fronteiras brasileiras é necessário o desenvolvimento humano na
região de fronteira. O povo da Amazônia brasileira é o fator decisivo na
manutenção das fronteiras brasileiras. Quase sempre se fala em projetos de
defesa e segurança para a região e muito pouco se fala sobre o combate a
miséria e projetos de desenvolvimento do povo amazônico.
.
Bibliografia
BARBOSA, José. Sistema de
Proteção da Amazônia- SIPAM- Sistema de Vigilância da Amazônia-SIVAM. Rio
de Janeiro: Escola Superior de Guerra: Departamento de Estudos- Curso de Altos
Estudos de Política e Estratégia.
BORMANN, Arno Renato. A
defesa da Amazônia. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra: Departamento
de Estudos 1997.
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA
PESQUISAS E ESTUDOS POLÍTICOS. A Nova Ordem Mundial, Soberanias Nacionais e
Amazônia (Prêmio Senador Milton Campos). Brasília: 2002. pp. 245.
GOES, Sinésio Sampaio. Navegantes,
Bandeirantes e Diplomatas. Aspectos da Descoberta do Continente, da
penetração do território brasileiro extra-Tordesilhas e estabelecimento das
fronteiras na Amazônia. Brasília: IPRI; 1991. (Coleção Relações Internacionais,
11)
MATTOS, Carlos de Meira. Uma
geopolítica pan-amazônica, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exercito,1980 (coleção
General Benício,v.181, publ. 501). p. 28.
REIS, Arthur Cezar Ferreira. A
Amazônia e a integridade do Brasil. Manaus: Edições do Governo do Estado do
Amazonas. 1966. (série Alberto Torres, vol. 04). p.46
RUMBELSPERGER, Antônio Carlos F.
O Projeto Calha Norte e os países da área: políticas e estratégias para a
atuação do Brasil in Revista da Escola Superior de Guerra; Edição
monografias. Ano X, N°. 28. Rio de Janeiro, ESG, 1994.
TOCANTINS, Leandro. A
Formação Histórica do Acre. Rio de Janeiro: Editora Conquista, 1961.
(Coleção Temas brasileiros), primeiro volume. p. 40.




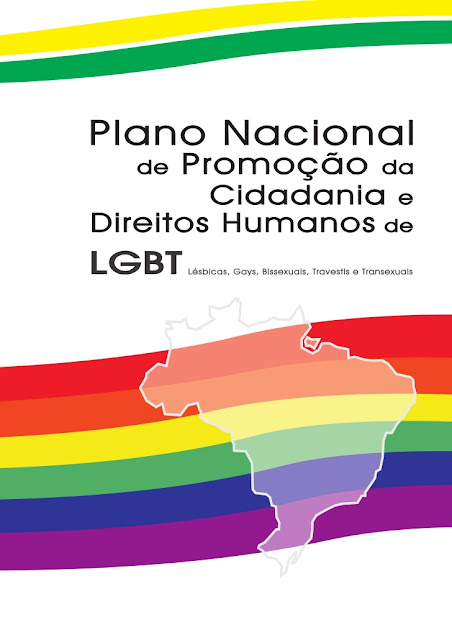
Comentários
Postar um comentário